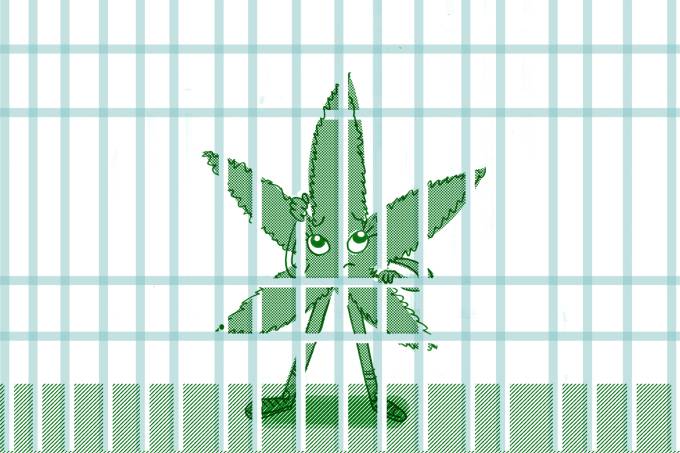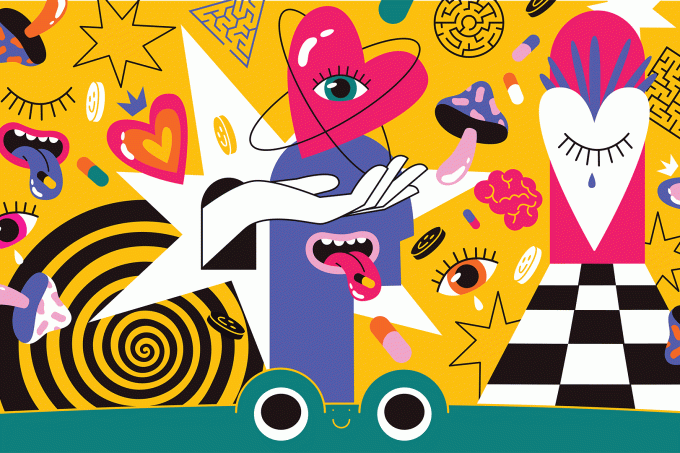não se encaixar fez parte do crescer de Luciana Pascoal Araújo. Na infância passada em Manaus, era às vezes reconhecida como indiazinha, outras não. Culpa da origem misturada, do resultado do amor de uma índia baré por um homem branco. Mas o que importa é que ela se sentia indígena, herdara o reconhecimento e os cabelos da avó, índia da etnia baré, que nem português falava. Luciana cresceu vendo a anciã transgredir costumes da cidade – comia com as mãos, mesmo tendo talheres. Tão índia que morreu aos 107 anos sem fios brancos na extensa cabeleira negra. Por causa dela, Luciana ganhou o nome de Awa-Pukú, cabelo comprido.
A dúvida sempre foi dos outros. Awa-Pukú só tem certezas. Aos 18 anos, foi atrás de quem representava o estado na relação com os indígenas. Queria tirar o RANI, Registro Administrativo de Nascimento Indígena, a carteira de identidade dos indígenas, um atestado de sua origem. Procurou a Funai, mas teve o documento negado e a resposta para ela foi aterradora: “disseram que eu não trazia no rosto os traços indígenas”, relembra.
Awa-Pukú falava bem demais o português. Foram anos de peregrinações e busca pelos próprios direitos, até o dia em que conseguiu convencer um técnico da Funai a acompanhá-la em casa para conhecer a idosa avó. Ao ver que a língua materna ali era outra, que o tronco linguístico ligava a jovem aos povos do Alto Rio Negro, na região do Rio Maré, de onde saíram a avó e a mãe, Luciana foi reconhecida pelo estado como Awa-Pukú.
Ela poderia deixar pra trás o nome branco, Luciana, os anos de negação da origem da qual se orgulhava. Aquele documento era uma conquista, o resultado de anos de luta, mas ainda era pouco. De nada adiantava ela se reconhecer e se valorizar como indígena, valer-se das próprias raízes e da história de seu povo, se seus pares não eram também valorizados.

Para ela, era claro: a Amazônia não é uma só massa verde, compacta. É cada vez menos verde, porém sempre foi ampla e biodiversa. Tem ali, dentro de si mesma, áreas alagadas e mais secas. Campos e matas fechadas. Árvores imensas e arbustos pequenos e a maior biodiversidade da Terra. Nesse cenário, existem registros da presença de comunidades indígenas organizadas há cerca de 10 mil anos. Na Amazônia pré-colombiana, estima-se que viviam 8 milhões de indígenas. Awa-Pukú quis fazer o trajeto contrário de tantos de seus antepassados que foram da floresta para a cidade. Saiu de Manaus, se embrenhou na mata com o marido, também baré, e os quatro filhos. A família fincou raízes onde para ela sempre foi casa: às margens do Rio Negro. E é ali também, na beira d’água, que ela diariamente dá aulas na escola de Nova Esperança. Ensina português, geografia, arco e flecha, história, matemática e a nhengatu, língua falada hoje pelo povo baré. Leva o ensino indígena ao pé da letra sem deixar de lado o currículo básico. Canta um sem fim de canções infantis em nhengatu por acreditar no poder da oralidade. Alfabetiza cada criança duas vezes. “Minha luta agora é para que a língua principal ensinada nas escolas indígenas seja a língua materna de cada povo. O português tem que vir depois. Nossa língua foi matada por pessoas que vieram de outros países”, explica a professora.

Raízes
No início, os barés tinham um idioma para chamar de seu: o baré. Depois da chegada dos Jesuítas ao vale amazônico brasileiro, adotaram o nhengatu, desenvolvido a partir do tupinambá. Awa-Pukú cresceu falando o idioma, ensinou aos filhos, à neta que chegou cedo. Para ela, era preciso começar a reescrever a história baré, lembrar o povo de suas origens. Passou a trabalhar ao lado do amigo biólogo Joarlisson Garrido para relembrar o velho idioma e, juntos, escreveram uma cartilha. Estão lá, nas páginas coloridas para qualquer criança aprender: jacaré é Yakaré, baleia, pirá-wasú. Roça, kupixawa; flor, putíra. Iwi, o planeta Terra. “Hoje, a gente não tem proposta curricular de cada povo, a gente trabalha com a proposta da secretaria de educação. Por ser uma escola indígena, a gente tem que cumprir as metas, completar os conteúdos da secretaria e não o conteúdo do nosso povo. A gente transforma uma aula de português em nhengatu. E gosto de fazer isso, de explorar a oralidade. Por isso, a gente canta muito. A gente se expressa cantando e os alunos aprendem ao ouvir. A música foi um do recursos que encontrei para que essas crianças pudessem falar e entendessem o que estavam dizendo.”

Quando viaja para participar de algum congresso de professores, o mal estar dos tempos da cidade se repete, e é rebatido com orgulho. “Se você é indígena, todos os dias enfrenta preconceitos. As pessoas olham pra você e menosprezam. Ser indígena é encarar essas dificuldades, é ser um lutador, não é fácil. Eu tenho muito orgulho de bater no peito e dizer quando estou com minhas colegas: sou professora indígena e consegui alfabetizar meus alunos”, desabafa.
Nas horas vagas, ela pratica os saberes ancestrais que transformam restos de madeira em arte. Tudo mantendo a floresta de pé, sem derrubar um galho sequer. Awa-Pukú e a família usam como matéria-prima apenas galhos que a natureza descartou. Cada pedacinho, no fazer do artesanato, ganha uma nova chance, dá vida aos símbolos da Amazônia: folhas, arraias, botos. As esculturas lapidadas com minúcia por ela e o marido são encomendadas por museus e lojas todo o Brasil. Assim como sua arte, ela adoraria que o reconhecimento do próprio valor chegasse à vida e à alma de todo indígena. “Nós somos os verdadeiros donos dessa terra. A gente não foi achado porque a gente não estava perdido. Como indígenas, continuamos lutando e sempre lutaremos para ser reconhecidos como indígenas”.