Um dia, a estudante Bianca Santana caminhava pelas ruas do Centro de São Paulo quando passou em frente em um cursinho do movimento negro. Com um histórico de educação popular e naquele momento tendo aulas tanto na USP quanto na Cásper Líbero, ela decidiu bater à porta em busca de ajudar. “Vai ser muito bom para os alunos negros terem uma professora negra, como eles, cursando boas universidades”, respondeu o coordenador. Naquele momento, Bianca Santana se descobriu negra.
“No começo, eu tinha uma impressão de que o livro era especialmente importante pra pessoas negras de pele clara”
Os anos se passaram com Bianca reunindo histórias de outras pessoas que um dia se descobriram negras. Histórias de racismo, de dor, sofrimento, algumas de alegria, é claro, mas todas compartilhando aquele momento em que a ficha cai e então nada mais seria como antes. “Quando me descobri negra” foi lançado em 2015, tendo vendido, com a ajuda de programas de incentivo à leitura em escolas, universidades e bibliotecas, mais de 100 mil cópias.
Agora, a Fósforo relança o livro em formato pocket agradável com ilustração belíssima de capa feita por Isabela Alves e montagem por Danilo de Paulo, além de uma nova introdução escrita pela própria Bianca. Nós conversamos com ela, confira:
“Quando me descobri negra” é um best-seller que vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil desde seu lançamento, em 2015. Por que relança-lo agora?
São 100 mil cópias somando livrarias e programas de governo. Mas fico muito feliz de perceber que o livro tem um alcance muito maior do que eu, minha imagem, minha figura. Isso sempre me emociona muito quando penso nesse livro.
Rodei o país, fui em escolas, conversei com pessoas. E, muitas vezes… é muito bonito quando dizem que tiveram um despertar ou uma elaboração de consciência racial a partir da leitura do livro e das conversas sobre ele. E conheci muita gente que leu e deu de presente pra fulano ou pra ciclana também.
No começo, eu tinha uma impressão de que o livro era especialmente importante pra pessoas negras de pele clara. No Brasil tem essa ambiguidade, né? Um país que viveu por tanto tempo sob o mito da democracia racial. Mas depois fui encontrando muitas pessoas de pele retinta, de diferentes tons de negritude e de diferentes idades também.

“Quando me descobri negra” foi um livro pensado, em um primeiro momento, para um público mais jovem. Mas a quantidade de mulheres, principalmente adultas e idosas, com quem estabeleci relação depois de elas terem lido o livro é muito grande.
Então, me emocionou muito esse percurso e os vários indicativos de que a vida dele ainda não havia acabado. E acho que estamos em um momento de muito mais consciência de que o Brasil é um país racista, além de haver mais pessoas negras com muito mais consciência racial.
E aí o que me parece interessante no livro é que tanto ele ajuda nessa retomada, nesta tomada de consciência de pessoas negras, bem como já ouvi também de muita gente branca falar: ‘olha, não entendia tão bem do que se tratava, e às vezes os textos teóricos afastam e não consigo entender racionalmente.’
Agora, o caminho do livro vai além de dentro da escola e da biblioteca, que acho que é onde ele circulou mais. É um caminho para a rua e para o público geral.
Leio essas histórias do livro e, bem, quase sempre essa primeira noção de se entender negro tem a ver com o entendimento do racismo. É sempre muito violento, não é? Como foi para você se descobrir negra, e qual foi sua primeira reação emocional?
A primeira vez que ouvi que eu era negra foi muito positiva, não foi uma ofensa. É óbvio que isso depois me permitiu reviver ou rever uma série de experiências interpretando também sob a ótica do racismo, mesmo que eu não tenha interpretado assim quando vivi.
Mas eu estava ali, né? Venho de uma trajetória de educação popular, cresci na Zona Norte de São Paulo, na periferia e sempre próxima da educação popular. Quando entrei na universidade tinha me distanciado um pouco, até que, por acaso, passei na frente de uma série de cursinhos de movimento negro.
Eu conto isso no livro. Entrei para estar ali, me oferecer para dar aula, contribuir de algum jeito. E foi curioso porque ouvi do coordenador: ‘Ah, você estuda, faz jornalismo na Cásper Líbero, é um sucesso na USP. Vai ser muito bom para os alunos negros terem uma professora negra, como eles, cursando boas universidades.’ Aí eu levei um choque, mas foi um presente, sabe? Esse professor organizou, colocou um nome em algo que eu percebia e não tinha nome.
“Eu tinha sempre o cuidado de perguntar para a pessoa se eu podia escrever, se seria um problema ou invasivo, e também sempre tive o cuidado de mostrar antes de publicar”
Esse primeiro impacto reverberou de forma muito positiva. É como se eu percebesse, especialmente naquele momento de entrar na universidade, uma diferença grande em relação a maior parte dos meus colegas, algo que eu atribuía naquele momento a uma diferença de classe. Então, eu era mais pobre, vivia na periferia, passava muitas horas no transporte público, mas eu não atribuía também à uma diferença racial.
Como você encontrou as pessoas que te contaram essas histórias?
Eu fazia parte de um coletivo chamado Casa de Lua, ficava perto do metrô Vila Madalena. E ali a gente começou a organizar círculos de mulheres negras. Havia ali uma troca de experiências de mulheres que vinham da cidade inteira, e fui percebendo muitos pontos comuns na trajetória delas.
Era aquela história: cresceu em uma Cohab, quando alguém da família conseguia estudar mais, ia para uma habitação popular. Dava pra ver o papel das políticas públicas. Aquele era o momento do início das cotas sociais na universidade, então começavam a chegar jovens ali, meninas de coletivos feministas e coletivos de movimento negro.
Eu tinha sempre o cuidado de perguntar para a pessoa se eu podia escrever, se seria um problema ou invasivo, e também sempre tive o cuidado de mostrar antes de publicar. Na época, os textos estavam em um blog no Brasil Post, a versão brasileira do Huffington Post, e mais histórias foram chegando.

Imaginei que o livro tinha acontecido como parte de uma rede de apoio. E, acho que hoje voltou à pauta esse debate sobre as redes serem importantes na construção de afetividades, identidades e afirmações. Você vê seu livro como uma maneira de fortalecer o movimento negro contemporâneo?
Ele é um livro, me parece, de constatação dessa dimensão coletiva. Se a política do Estado brasileiro é genocida desde a abolição, e temos inúmeros dados que permitem fazer essa afirmação, então o que explica sermos a maior parte da população brasileira? O que explica a gente ser maioria populacional?
E essa resistência negra se articula de muitas formas, das mais silenciosas às mais barulhentas. As que conseguimos ver e as que nem percebemos que existem, mas sempre numa dimensão coletiva.
Porque é impossível um indivíduo resistir a um aparato tão pesado, grande, que se sobrepõe a tantas dimensões da vida, mas, na coletividade, essa resistência se tece no Brasil, desde antes da abolição, quando ainda era uma resistência à escravidão, e depois, como resistência ao racismo.
“No passado, eu achava que as pessoas não percebiam o racismo delas. E eu achava que se a gente contasse para as pessoas, elas iam falar: ‘nossa, é verdade, eu sou racista, vou prestar atenção’. Infelizmente, não acho mais que estamos nesse momento”
E aí fico feliz mesmo, ainda sem consciência, porque quando escrevi também não tinha consciência dessas dimensões que estou falando hoje, de perceber dimensões dessa coletividade em histórias de vida, em histórias individuais. Mas todas essas histórias, elas têm dimensão coletiva, tanto que isso reverbera muito em as pessoas perceberem que viveram algo parecido.
Várias das histórias ali que não são minhas, elas poderiam ser, porque eu poderia ter vivido qualquer uma daquelas coisas, ou eu vivi algo que é muito parecido, ou alguém muito próximo de mim viveu.
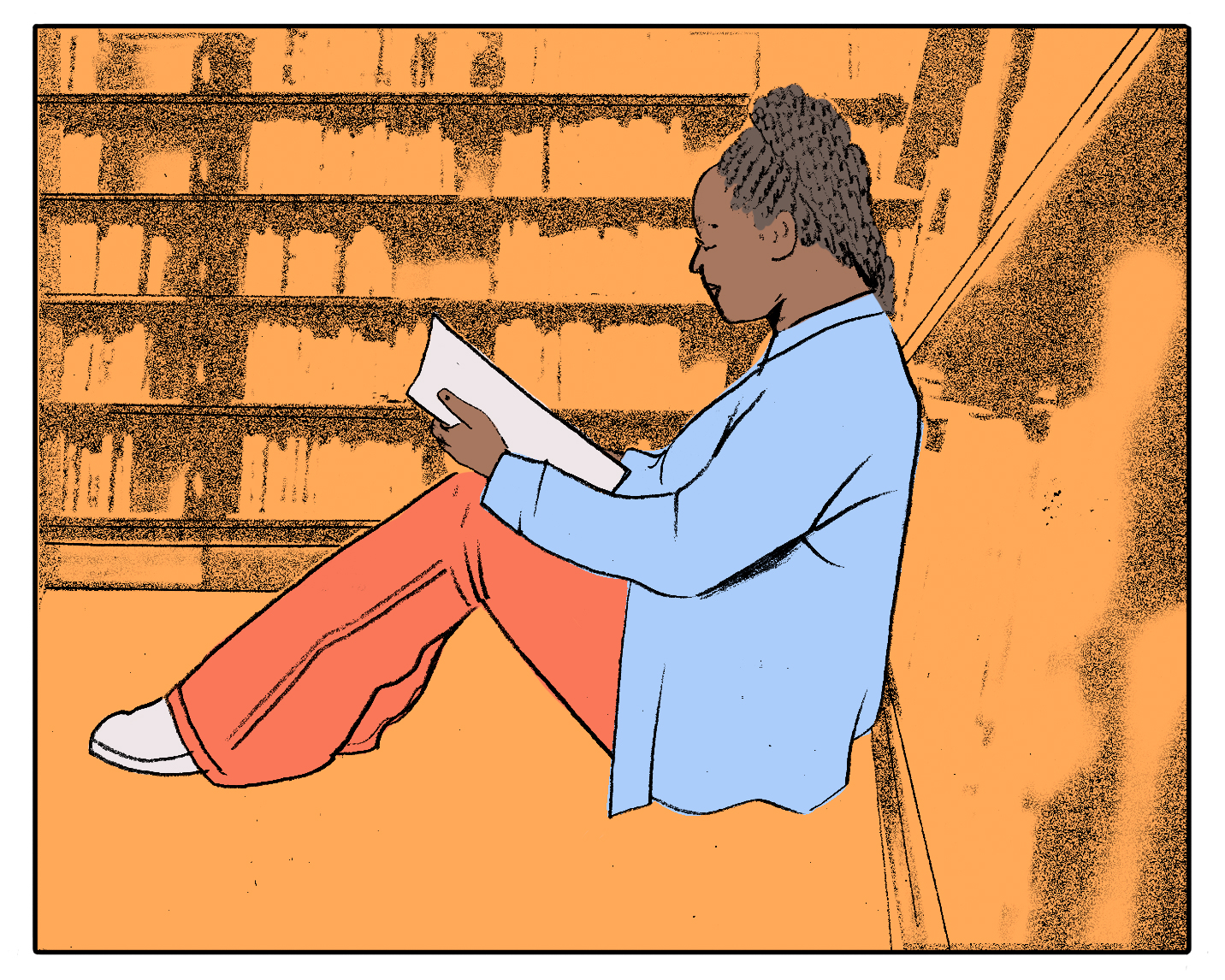
Você diz que está relançando o livro em um momento de maior consciência racial no Brasil, mas ainda vemos cotidianamente situações que vão de humoristas reclamando por não poderem fazer piadas até situações degradantes nos campos de futebol. Como podemos perceber e ainda continuar gerando absurdos assim?
No passado, eu achava que as pessoas não percebiam o racismo delas. E eu achava que se a gente contasse para as pessoas, elas iam falar: ‘nossa, é verdade, eu sou racista, vou prestar atenção’. Infelizmente, não acho mais que estamos nesse momento.
Até acho que era mais confortável achar que estávamos nele. Hoje, acredito que as pessoas percebem mas se limitam a se afastar, se auto-vigiar e a não querer propagar racismo. E, infelizmente, temos pouca gente que percebe o racismo e se compromete a enfrentá-lo ativamente.
Eu falo de pessoas brancas, pessoas negras, amarelas, indígenas, porque quando a gente vive numa sociedade racista, a gente reproduz racismo.
E aí muitos perguntam: “Mas como assim? As pessoas negras, se são maioria, por que o racismo ainda existe? Não era só se insurgir, acabar?” Quem dera fosse um fenômeno assim!
Porque muitas vezes percebemos, nas próprias famílias e comunidades negras, como o racismo também opera nesse lugar de subjugar, de se auto-subjugar, de subjugar aquele que é meio semelhante, que é meio igual.
Me parece mais complexo do que simplesmente, entender o racismo e a partir de amanhã não ser mais, não reproduzir racismo, reagir bem quando presenciar uma situação de racismo. Não é assim onde há um fenômeno em que a maior parte das pessoas diz que existe racismo no Brasil mas que não é racista, não reproduz nem tem nada a ver com isso.
“E aí muitos perguntam: ‘Mas como assim? As pessoas negras, se são maioria, por que o racismo ainda existe? Não era só se insurgir, acabar?’ Quem dera fosse um fenômeno assim!”
Eu gosto muito de estudar as teorias do testemunho e as teorias de memória, para pensar, por exemplo, tanto essa memória latino-americana em relação aos regimes autoritários, da importância de lembrar para que não se repita, e também de uma literatura judaica pós-Auschwitz, do contar para que não se repita, para que não aconteça mais em nenhum lugar e com nenhum povo.
Tem uma autora ruandesa, Scholastique Mukasonga, que narra a vida em Ruanda no período em que se estruturou aquela provocação colonial dos Hutu contra os Tútsi, e depois a experiência do genocídio, de viver o genocídio da família dela toda. Esse narrar é muito importante, tanto para a elaboração, para que Scholastique elabore, para que os Tútsi que sobreviveram elaborem, para que os Hutu elaborem,para que Ruanda elabore como país, porque essa elaboração é fundamental para que não se repita e para que quem testemunhou e viveu sobreviva.
O Brasil não narrou suficientemente as suas violências, as suas dores e suas mazelas. A gente não narrou suficientemente o que foi a violência escravocrata, o que foi a violência colonial. A gente não narrou suficientemente o racismo. E aí é como se não tivéssemos repertório interno nem externo para mudar.
Quando a gente pensa no Carrefour, por exemplo, o Beto foi assassinado no Rio Grande do Sul. Em vez da conseguirmos, como sociedade, olhar para isso profundamente, compreender na dor a dimensão do assassinato de um homem negro no supermercado,
o que acontece é a empresa criar um comitê com várias pessoas, começa uma política, e é como se tivéssemos resolvido. É impossível resolver assim! Tanto que se repete, e se repete, e se repete. E a cada mês, a cada semana, temos uma nova notícia, especialmente no Carrefour.
Então, enquanto a gente não olhar com verdade, enquanto a gente não narrar em profundidade, porque é doloroso lembrar, admitir e repensar, enquanto a gente não fizer isso com verdade, não vamos conseguir mudar.
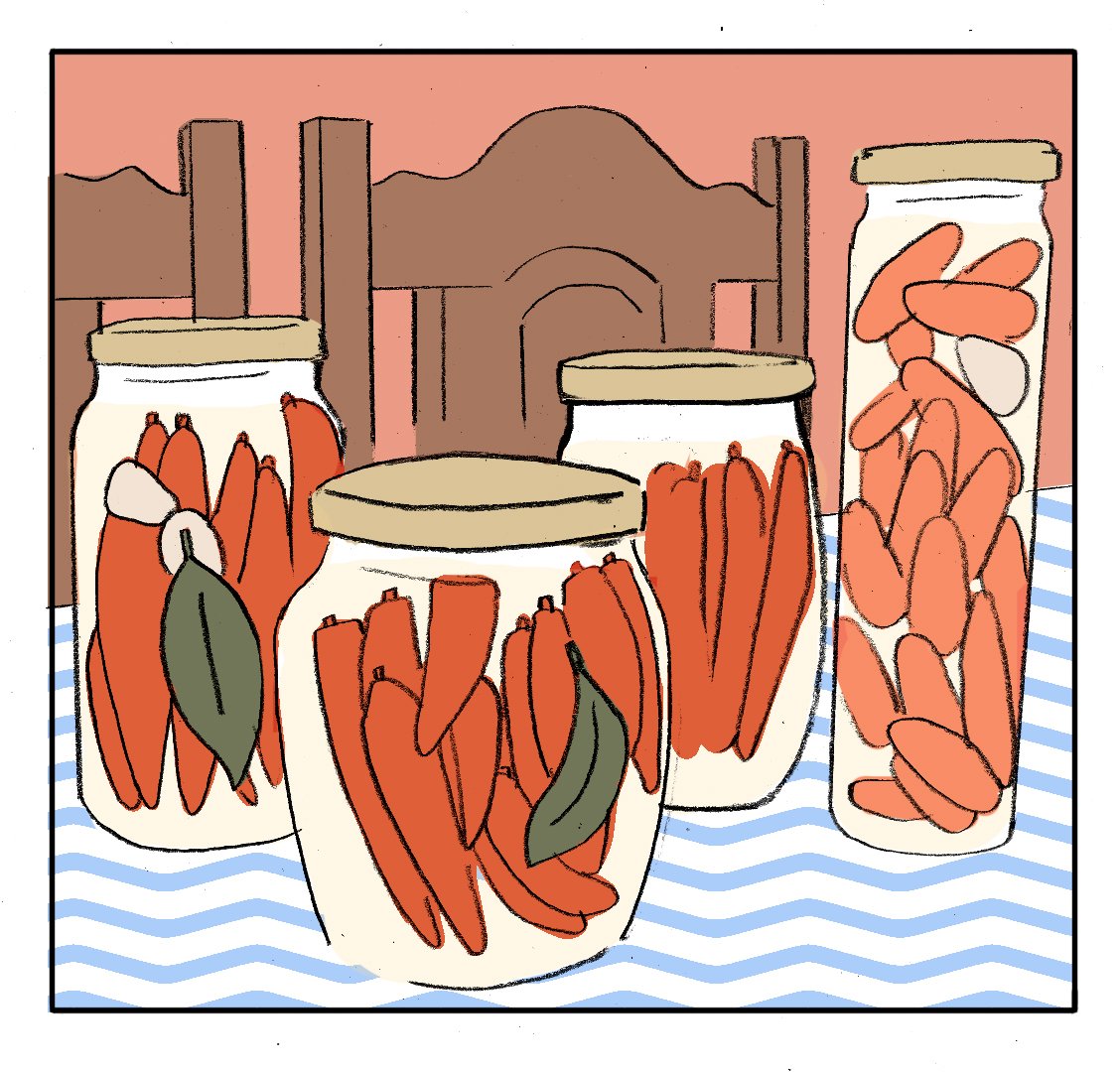
Isso que você fala sobre não termos repertório do nosso passado também não está ligado, em partes, ao fato de que os registros da colonização foram destruídos?
Esse é um dos temas que mexem com meu coração. Um capítulo da minha tese de doutorado sobre memória e escrita de mulheres negras fala sobre como nossos documentos existem e estão esperando por nós.
Porque temos essa imagem de que Rui Barbosa mandou queimar tudo o que estava no Ministério da Fazenda e órgãos correlatos naquilo que me parece ser uma tentativa de fugir de pagamento de indenizações às famílias dos escravizados. Só que a gente precisa considerar que essa foi uma ordem dada no Brasil, um país muito grande, e que era o século 19. Então, assim, a chance de não ter queimado tudo, nem no Ministério da Fazenda, é enorme! E tudo que não estava em órgãos do Ministério da Fazenda e correlatos teve chance de se preservar.
“Tem um monte de documento para pesquisar. E por que não pesquisamos antes? Porque as pessoas negras nem tinham acesso, não tinham a possibilidade de fazer pesquisa. Quando a gente fala que cota racial é fundamental na universidade pública, porque muda o país, é porque além de a gente conseguir que as pessoas negras estejam mais bem formadas, tenham maior condição de empregabilidade, é porque isso também muda a pesquisa”
É óbvio que tem incêndio criminoso, incêndio sem querer, enchente, mas cartórios, igrejas, escolas, hospitais e tribunais de justiça, têm arquivo. Temos uma busca recente, da metade do século XX pra cá, em muitos desses arquivos, e muitos documentos têm sido encontrados. Temos um trabalho fantástico, recente, de historiadoras e historiadores. Eu já recomendo a rede de historiadoras e historiadores negros, que têm encontrado, assim, coisas muito preciosas nesses arquivos.
Recentemente, o Marcelo D’Salete publicou uma história em quadrinhos chamada “Mukanda Tiodora”, sobre uma mulher que foi escravizada em São Paulo no século 19, e que uma pesquisadora – olha a beleza dessa história! – estava ali lidando com arquivos de criminais, e ela encontra dentro do inquérito de um homem negro que foi preso uma série de cartas dessa Tiodora.
Por que? Tiodora era uma escravizada de ganho ali no bairro da Liberdade que queria se comunicar com a família, mas não sabia ler nem escrever. Esse cara sabia, era um homem negro liberto, que escreveu as cartas mas nunca as enviou. Quando foi preso, as cartas foram apreendidas com ele, ficando no cartório, em um processo criminal, por mais de um século, até que essa pesquisadora encontrasse.
Estou te contando um caso. Tem inúmeros, tem um monte de documento para pesquisar. E por que não pesquisamos antes? Porque as pessoas negras nem tinham acesso, não tinham a possibilidade de fazer pesquisa. Quando a gente fala que cota racial é fundamental na universidade pública, porque muda o país, é porque além de a gente conseguir que as pessoas negras estejam mais bem formadas, tenham maior condição de empregabilidade, é porque isso também muda a pesquisa. Afinal, quem é que vai olhar para os arquivos com essa expectativa ou percepção? Nós temos um monte de documentos esperando por nós!
Quando escrevi a biografia da Sueli Carneiro, resolvi fazer uma busca genealógica da família do pai dela, para encontrar a origem do sobrenome Carneiro. E era uma coisa assim, a Sueli é mulher militante de movimento negro, muito bem formada, né? Quando eu falei para ela, ela também disse que eu não iria encontrar, que queimaram os documentos. Porque está no nosso imaginário coletivo que os documentos foram queimados. E cheguei até o tataravô da Sueli, Manuel Gaivota, um homem escravizado em Grão Mogol, na região de Minas Gerais. Ele e a a bisavó dela, Maria Gaivota, muito possivelmente foram vendidos da região diamantina para a área do café, foi assim que chegaram ao sul de Minas Gerais.
Então, a gente tem um trabalho… eu falo muito que a minha geração de movimento negro tem um trabalho importante de registrar as histórias que não foram contadas. E tanto a minha geração quanto as futuras vão ter esse trabalho de escavação, de procurar nos documentos o que não foi contado.
Bianca, falamos sobre a construção de coletividades mas também queria saber sobre a importância das interseccionalidades nos debates antirracistas da atualidade.
Passou-se muito tempo com poucos donos de tudo vivendo em uma condição muito confortável, enquanto a com a maior parte das pessoas vive em uma condição degradante por muitas razões diferentes.
Espero que estejamos em um momento de revisão da nossa história, para que a gente viva, de fato, com todo mundo tendo acesso a direitos, com todas as pessoas podendo viver plenamente. Que tenham seu direito à vida garantido em primeiro lugar, porque hoje não é todo mundo que tem direito à vida, seu direito ao trabalho, direito à saúde, à educação, que é o que já diz a nossa Constituição.
E aí tem gente que fala que são pautas identitárias. Não é uma pauta identitária. Nunca vi uma pessoa do movimento LGBTQIA+ falar que defende uma pauta identitária porque estou defendendo a minha vida ou a minha imposição.São lutas por justiça social e racial, por acesso a direitos e por igualdade. E tem muita gente incomodada com isso. Mas me parece um momento muito importante de a gente conseguir, de fato, construir uma sociedade justa. É sobre justiça.
“É tão cruel, é como se a gente não tivesse possibilidade de construir o Brasil que a gente quer. Porque estamos o tempo todo precisando interromper aquilo que chega com tanta violência”
Então, eu sou uma mulher urbana, militante de movimento negro e de movimento feminista. Eu estava na feira do MST, compro produtos da reforma agrária. Cuido do meu consumo para que a produção da minha vida não seja a reprodução da morte do outro.
Não dá mais para viver essa negação. A gente precisa, na nossa vida, dar dimensão daquilo que queremos entregar para o mundo. Então, na minha casa, por exemplo, o trabalho doméstico é uma questão. Não temos nenhum tipo de trabalho doméstico. Isso vira quase uma aberração. E meus filhos, meus avós, minha mãe, dizem que nenhum dos seus amigos precisa fazer nada disso. Coitados dos seus amigos, entendeu? Que além de não saber lavar o próprio banheiro ainda vivem normalizando que uma mulher negra pobre faça aquilo que a família não pode, não quer, não tem tempo de fazer.
Então, como a gente reorganiza o nosso tempo para não reproduzir dentro da nossa casa as dimensões opressivas, que são da sociedade, mas que são também da nossa vida?

Me parece que o movimento negro trabalha não apenas lutando por avanços, mas contra retrocessos…
Infelizmente, né? Eu sou da Casa Sueli Carneiro, acompanho a diretoria, e a Casa é uma das 250 organizações que fazem parte da Coalizão Negra por Direitos. Ontem ficamos até quase 11 da noite em reunião, e uma das coisas que dissemos é que não temos condição de sonhar a sociedade brasileira e materializar na nossa luta o nosso projeto de país. Porque precisamos o tempo todo reagir aos retrocessos e denunciar os abusos.
É tão cruel, é como se a gente não tivesse possibilidade de construir o Brasil que a gente quer. Porque estamos o tempo todo precisando interromper aquilo que chega com tanta violência.
E aí, por que o movimento negro precisa estar articulado com pessoas brancas que compreendam profundamente a desigualdade racial e se coloquem no enfrentamento ao racismo? Porque se as pessoas brancas antirracistas fizerem a contenção, cuidarem para que os retrocessos não avancem, cuidarem de reagir à violência, nós temos uma possibilidade boa para o país todo, não só para o movimento negro, de ter organizações coletivas apresentando soluções coletivas.
A Lia Vainer, que organizou o recente livro “Branquitude – Diálogos sobre racismo e antirracismo“, do qual você faz parte, me disse que sente que o problema, de certa forma, evoluiu da branquitude para a supremacia branca. Como vocês estão lidando com essa evolução que agora trouxe a violência explícita?
Na minha leitura, essa emergência de extrema-direita e essa rearticulação de supremacia branca é uma resposta aos avanços dos movimentos negro e feminista.
Esses caras estavam quietinhos e confortáveis porque aquela coisa teoricamente pacífica estava funcionando. A partir do momento que se sentem ameaçados na supremacia, que veem mais direitos sendo conquistados, que tem uma justiça sendo construída, eles agem com violência. Então, para mim, esse é um termômetro de que a nossa atuação está dando certo, que tem bons resultados.
Isso é uma reação ao que está dando certo e nós temos que ser muito firmes, e muito firmes também na construção de alianças para a gente barrar a supremacia. A supremacia branca é terrível para pessoas negras,para pessoas asiáticas, para quem tem pensamento político divergente, mas ela também é terrível para pessoas brancas que querem viver em um mundo onde todo mundo possa viver. Então, essa aliança para barrar os supremacistas é fundamental.





