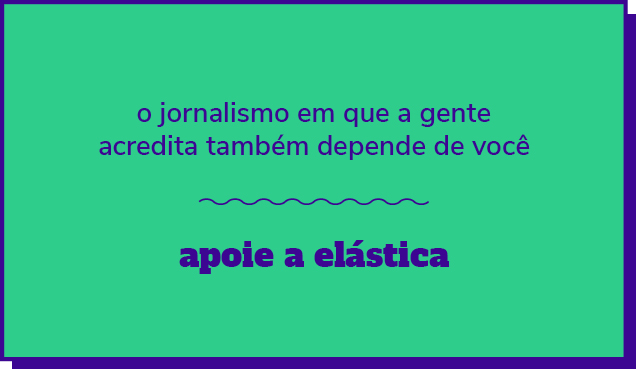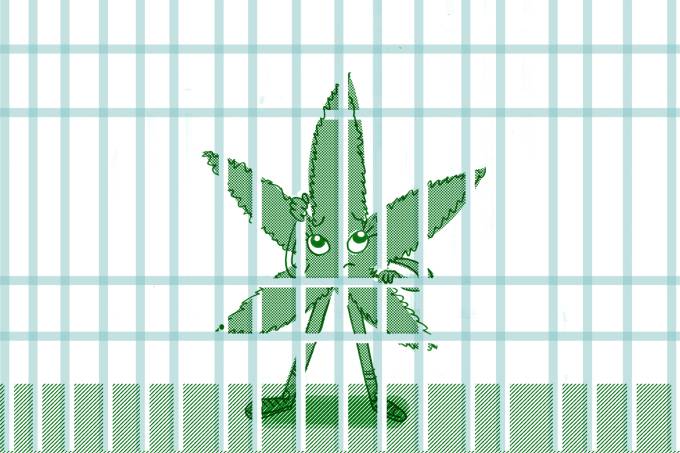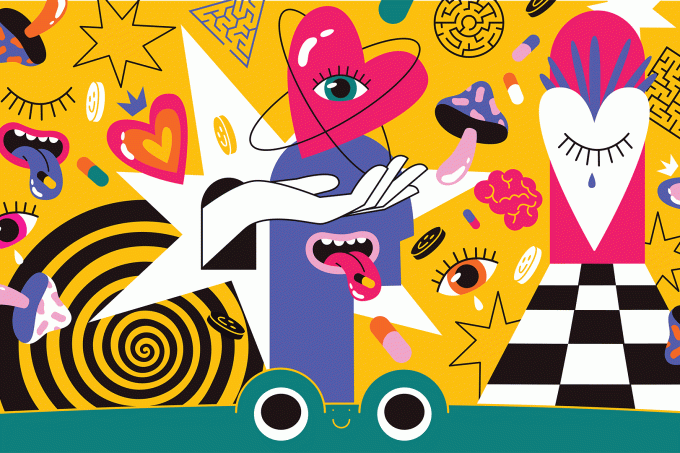Eu fui mãe jovem, muito jovem. Aos 15 anos, tinha um relacionamento e com 19 estava gestando. Era um domingo. Tive um sangramento e fui para o hospital. Não sabia nada sobre contração e já estava com 9 cm de dilatação. Me levaram à uma sala de parto e o médico, então, pediu para eu não empurrar o bebê. Em seguida, lembro de uma voz feminina dizendo para não aplicar analgesia porque a ocitocina faria com que eu não sentisse dor. E eu senti o corte do bisturi. Meu filho nasceu em trinta minutos. Tive depressão pós parto e após sete anos tentando nomear o que eu sentia, descobri que aquela dor física e emocional era consequência de uma parto desrespeitoso, fruto de uma mutilação genital ocasionada por uma episiotomia inadequada feita para ensinar alunos residentes”.
A constatação de ter sido vítima de violência obstétrica em um parto em que seu corpo foi usurpado em uma aula sem o seu consentimento trouxe a doula Daniele Sampaio, criadora da Coletiva Mãe na Roda, ao ativismo que faz dela uma das personagens mais relevantes na batalha pelo acesso das mulheres pobres ao direito de dar à luz de forma digna e respeitosa.
Daniele, que mora na comunidade Jardim Monte Azul, no M’Boi Mirim, zona sul de São Paulo, sentiu na pele as mazelas de parir seu primeiro filho em um hospital público sendo uma mulher preta e pobre da periferia. No segundo filho, a ativista de 39 anos teve uma experiência positiva dentro de uma casa de parto junto ao seu bairro que a fez comparar modelos de gestação, levando-a à militância combativa de hoje.
“Fui recepcionada carinhosamente na porta da Casa Angela. Estavam com meu prontuário, sabiam meu nome e perguntaram o nome do bebê que estava morando em mim. Isso me mostrou o que é bom e eu passei por todo o processo de acolhimento como uma reestreia. Doze anos depois da minha primeira gestação com toda aquela violência, pude usufruir o melhor que o equipamento de saúde podia me dar”.
Sua terceira cria, a Coletiva Mãe na Roda, se destaca não somente por acompanhar o pré-natal das gestantes, mas por formar opinião em ações como rodas de conversa e distribuição de cartilhas dentro de territórios ignorados pelo estado, levando informação e, sobretudo, reverberando senso crítico no clã familiar do espaço periférico.
“Em 2016, encontrei outras mulheres e montamos a coletiva. Buscamos a certificação de doulagem e tivemos contato com as evidências científicas, entendendo o que é lei, ética, violência obstétrica, racismo obstétrico e qual o papel do médico. A formação de doula é uma formação política social. Nosso nicho são as mulheres que, por motivo de saúde, não podem parir em uma casa de parto”, diz Daniele, ressaltando a necessidade urgente para que os hospitais públicos aceitem a presença de doulas sem alegar falta de espaço e que o Sistema Único de Saúde (SUS) as contrate para que o serviço não fique restrito à elite que pode pagá-lo.
“Em 2016, encontrei outras mulheres e montamos a coletiva. Buscamos a certificação de doulagem e tivemos contato com as evidências científicas, entendendo o que é lei, ética, violência obstétrica, racismo obstétrico e qual o papel do médico. A formação de doula é uma formação política social”
Daniele Sampaio

“Precisei sair da periferia para dialogar onde a humanização é falada. Ela é discutida na bolha, mas a humanização não chega para o meu território. A bolha não influencia na melhoria dos hospitais do Campo Limpo e M’Boi Mirim, por exemplo. E aí te pergunto. Humanização para quem? Para quem tem dinheiro?”.