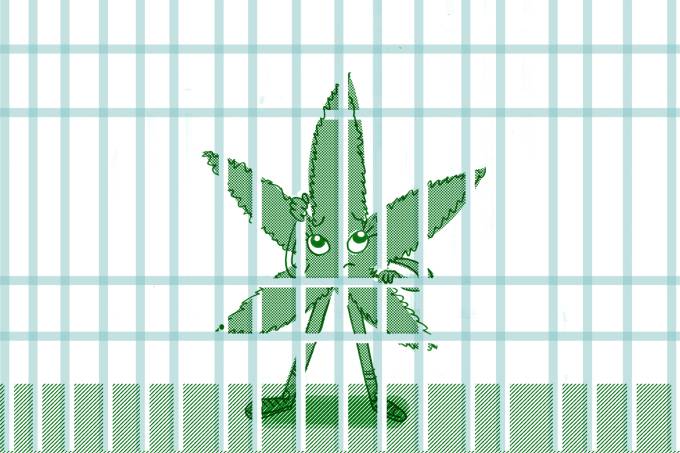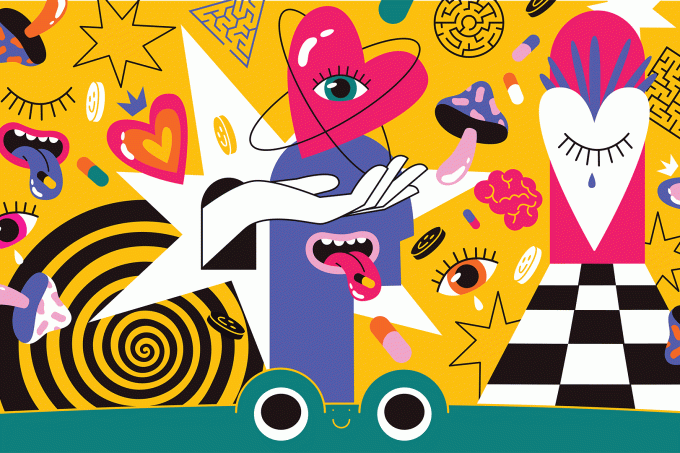uando o mundo engatinhava, e pessoas e animais corriam por savanas e florestas sem saber o que era “privado”, alguém botou uma cerca em um pedacinho de terra e disse “isso é bom e civilizado”, o resto é mato. Aconteceu há milhões de anos, aconteceu de novo quando os portugueses invadiram o Brasil e aconteceu, recentemente, quando a internet deixou de ser um sonho anarquista de conteúdo livre e gratuito para tornar-se o cercadinho de Mark Zuckerberg.Em março de 2012, quando Larissa Santiago, 33, lançou o Blogueiras Negras, ela não imaginava muito bem o poder que a internet começava a exercer sobre a sociedade. Reunir textos de mulheres negras que estavam em diálogo na web era o que ela e outras idealizadoras do site desejavam. ‘‘Desde o início dos anos 2000, já existia uma esfera pública de mulheres negras conectadas. Passamos a nos organizar nos blogs e nos fóruns, que começaram a ser um grande espaço de trocas de ideias’’, explica a publicitária. Mas, no mesmo ano em que elas colocaram o projeto na rua, uma rede social despontou no Brasil e modificou o cenário da internet.
‘‘No meio disso tudo surgiu o Facebook, como a primeira plataforma que retira a audiência dos blogs. Ele vai sistematicamente fazendo com que você fique cada vez mais fechado dentro dele’’. Foi aí que não só elas, mas diversos produtores migraram os seus conteúdos para a rede social. O problema, para Larissa, é que as pessoas foram perdendo a autonomia que tinham nos blogs e nos fóruns, ”caímos na cilada do Facebook e de outras empresas de que tudo que é opinião, que é notícia e que é muito relevante está neste lugar. É mentira, o Facebook não é a internet, a internet é muito mais que as redes sociais’’.
–
“Caímos na cilada do Facebook e de outras empresas de que tudo que é opinião, que é notícia e que é muito relevante está neste lugar. É mentira, o Facebook não é a internet. A internet é muito mais que as redes sociais’’
Larissa Santiago

O Dilema das Redes, documentário lançado recentemente pela Netflix, evidencia a lógica desse sistema. As mídias são projetadas para aumentar o tempo que gastamos interagindo com elas. Isso para ficarmos mais expostos a anúncios que são personalizados com os dados que nós mesmos geramos e disponibilizamos. É por isso que é melhor para o modelo negócios dessas redes que os usuários acreditem que tudo que é importante está nelas, assim eles ficam mais tempo por lá. Foi assim que os espaços de discussão presentes nos blogs e nos fóruns foram enfraquecidos e deram lugar a um ambiente social cuja lógica é ‘‘engajar pela polêmica’’, como explica Larissa.
‘‘O modelo de negócios dessas redes é o engajamento, a prioridade não é desencadear ideias e discuti-las. A internet começou a migrar para esse modelo e, a partir daí, teve essa pressão para ter todas as informações no mesmo lugar, tudo no seu nome e sobrenome. A necessidade de responsabilização criminal veio muito depois da necessidade clara dessas empresas saberem quem é você para juntar todas as informações e dados sobre você em um lugar’’, diz Lucas Teixeira, especialista em segurança e cuidados digitais, integrante da equipe técnica do Instituto Nupef e da Criptofunk.