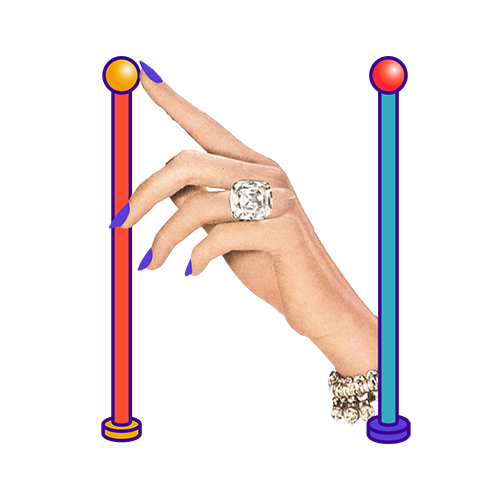
este sábado, 4, acontece a abertura da 34ª edição da Bienal de São Paulo. A mostra traz 91 participantes e mais de mil obras ao Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque Ibirapuera. No entanto, o aniversário de 70 anos do evento chega com novidades: consciência política, diversidade de artistas e uma proposta de diálogo com a sociedade.
“Podemos esperar muito da mostra. Acredito que será uma emoção voltar a visitar uma exposição desse tamanho”, diz o curador Jacopo Visconti — que propõe o tema “Faz escuro mas eu canto” para representar o momento social em que vivemos. O verso do poeta amazonense Thiago de Mello, publicado em 1965, mostra a força da resistência em tempos sombrios. “Há dois anos, quando começamos a organizar a Bienal, a leitura que se fazia do verso era ligada à situação política do Brasil. De lá para cá, as coisas se tornaram ainda mais difíceis de todos os pontos de vista e ele ganhou ainda mais importância”, conta Visconti. “Esse canto é entendido como uma metáfora de qualquer atividade cultural e a vontade de fazer arte em momentos de grande dificuldade.”
“Há dois anos, quando começamos a organizar a Bienal, a leitura que se fazia do verso era ligada à situação política do Brasil. De lá para cá, as coisas se tornaram ainda mais difíceis de todos os pontos de vista e ele ganhou ainda mais importância”
Jacopo Visconti
A 34ª Bienal chega em um momento de polarização política, de desigualdade e muita luta das minorias. Para o curador, mostrar que isso importa significa um esforço para diminuir as disparidades no campo da arte: esta é a primeira vez que artistas indígenas e não binários fazem parte da lista de convidados. Além disso, artistas mulheres como Ximena Garrido-Lecca, Carmela Gross e Frida Orupabo se destacam no Pavilhão.
“As obras de artistas indígenas são extraordinárias e mereciam ser escolhidas independente de qualquer outra consideração. Entendemos que não estamos dando voz, mas reconhecendo o espaço que eles merecem ter há tempos”, afirma Visconti. “Nesse sentido, nunca criamos lugares para produções específicas. Não há uma área para a produção indígena. Elas estão integradas a partir de pontos de vista e momentos diferentes para mostrar tanto sua força, quanto a falta que elas nos fazem para entendermos fatos que achávamos que já tínhamos entendido.”
Para o italiano, no entanto, ainda há muito o que se fazer uma vez que a representatividade numérica ainda não foi alcançada no mercado da arte. Segundo ele, é preciso colocar todos os membros da sociedade no mesmo lugar de partida. “A igualdade ressignificaria o mundo como um todo”, declara.

“As obras de artistas indígenas são extraordinárias e mereciam ser escolhidas independente de qualquer outra consideração. Entendemos que não estamos dando voz, mas reconhecendo o espaço que eles merecem ter há tempos”
Jacopo Visconti
Mas nem toda essa discussão fica clara para os visitantes. Isso porque os organizadores também trabalharam com o conceito de opacidade. Ou seja, mesmo que as obras tenham o objetivo de proporcionar o diálogo, nem sempre é possível entender tudo sobre o outro. Ainda assim, estar disposto a construir relações faz toda a diferença. “Falando especificamente da arte contemporânea, as pessoas entram em uma exposição achando que precisam gostar de tudo mas, na verdade, não é bem assim. Se você entrar com uma predisposição e saber que a sua interpretação é muito importante, a maneira como você vai se sentir será mais gratificante”, completa Jacopo.
Para saber um pouco mais sobre os trabalhos apresentados na Bienal, conversamos com cinco artistas que contaram suas histórias, visões de mundo e falaram sobre sua arte.








![FBSP_111115_34BSP_201113_LF_185 Performance [A] LA FLEUR DE LA PEAU durante a<br />abertura da exposição Vento, parte da 34ª Bienal de São Paulo](https://elastica.abril.com.br/wp-content/uploads/2021/08/FBSP_111115_34BSP_201113_LF_185.jpg?quality=70&strip=info)







