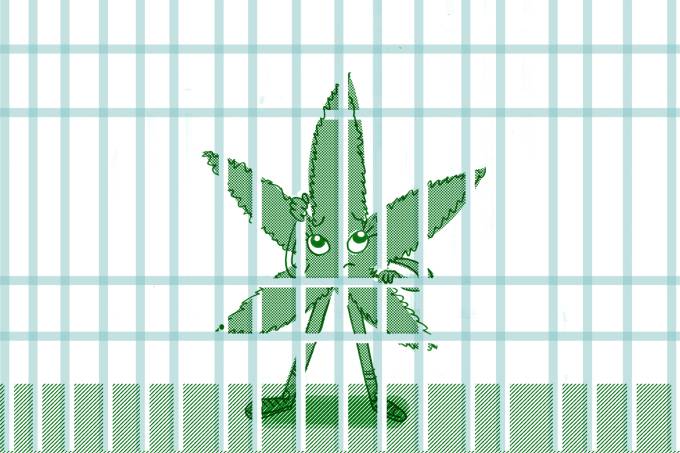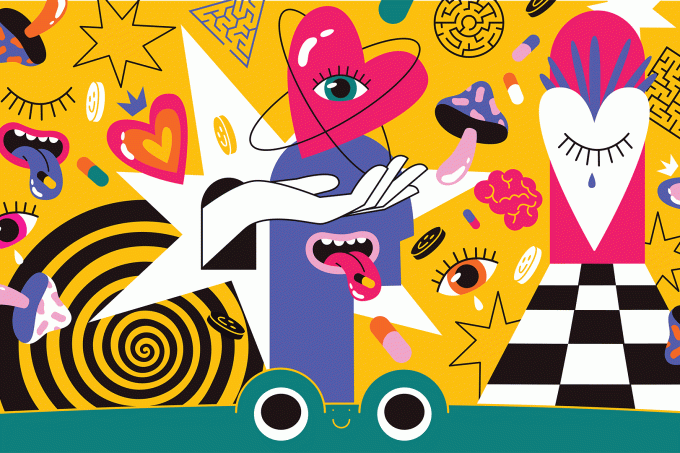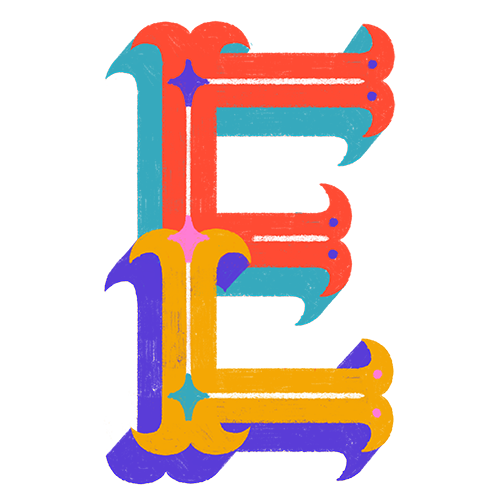
ra 2013 em São João do Cabrito, bairro na região conhecida como Subúrbio Ferroviário, em Salvador, quando as crianças dali foram questionadas sobre o que é memória. A resposta não veio em forma de palavra, mas alguns caminhos foram revelados em uma série de fotos que elas fizeram desse espaço: casas com varal adornando a fachada, um cardume de peixes, uma coleção de conchas, ruínas de antigas construções, a linha do trem.
Os registros foram reunidos na exposição “A Beleza do Subúrbio”, do Acervo da Laje, iniciativa surgida pelas mãos dos professores José Eduardo Ferreira Santos e Vilma Santos que, desde 2011, vem provocando o olhar sobre o que é valorizado na cidade. “É muito difícil na noção brasileira que palavras como periferia e beleza, subúrbio e patrimônio convivam. Causa espanto nas pessoas quando você fala”, nota Ferreira.

Criado e residente no bairro soteropolitano, quando estudava violência contra jovens na pós-graduação, Ferreira se impressionou com a falta de pertencimento dos adolescentes com seus locais de moradia. “Sem contar o olhar do Estado, só pra precariedade desses territórios”, diz. “A gente então iniciou a pesquisa e foi um assombro porque aconteceu muita coisa que contribuiu para o Brasil nesse território: o Quilombo do Urubu, invasões holandesas, tudo isso foi apagado. Começamos a mapear artistas e a partir deles a memória do território. Porque é um chão que nunca foi olhado como patrimônio”, afirma. “Tanto que se diz que o patrimônio é uma linhagem patriarcal, e a gente olha pensando como fratrimônio, da ideia de que a gente está construindo memória o tempo todo.”