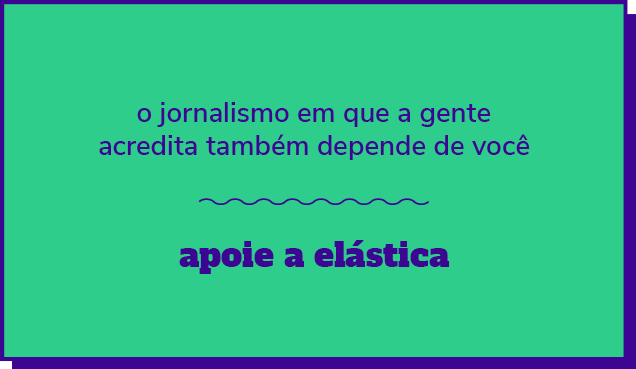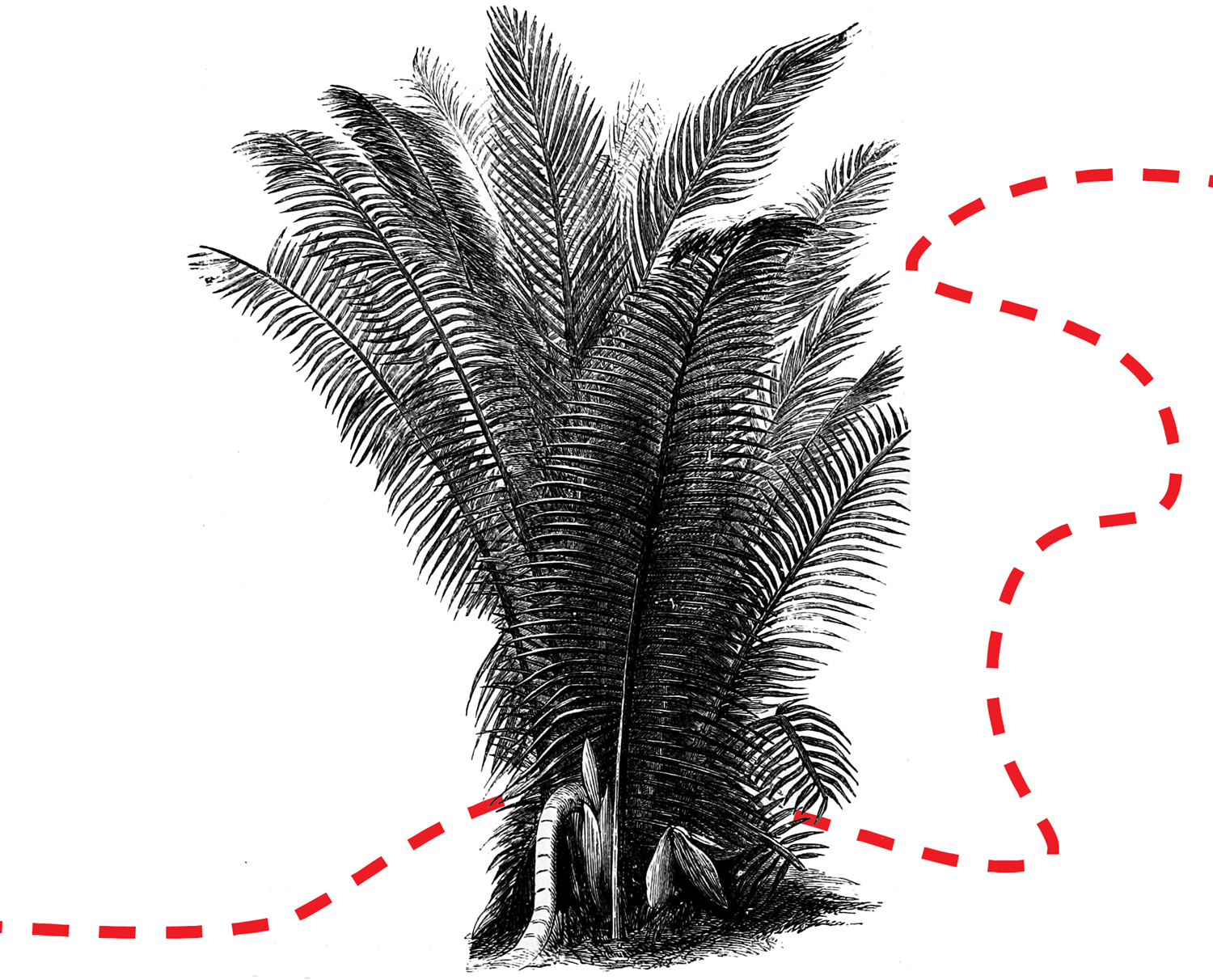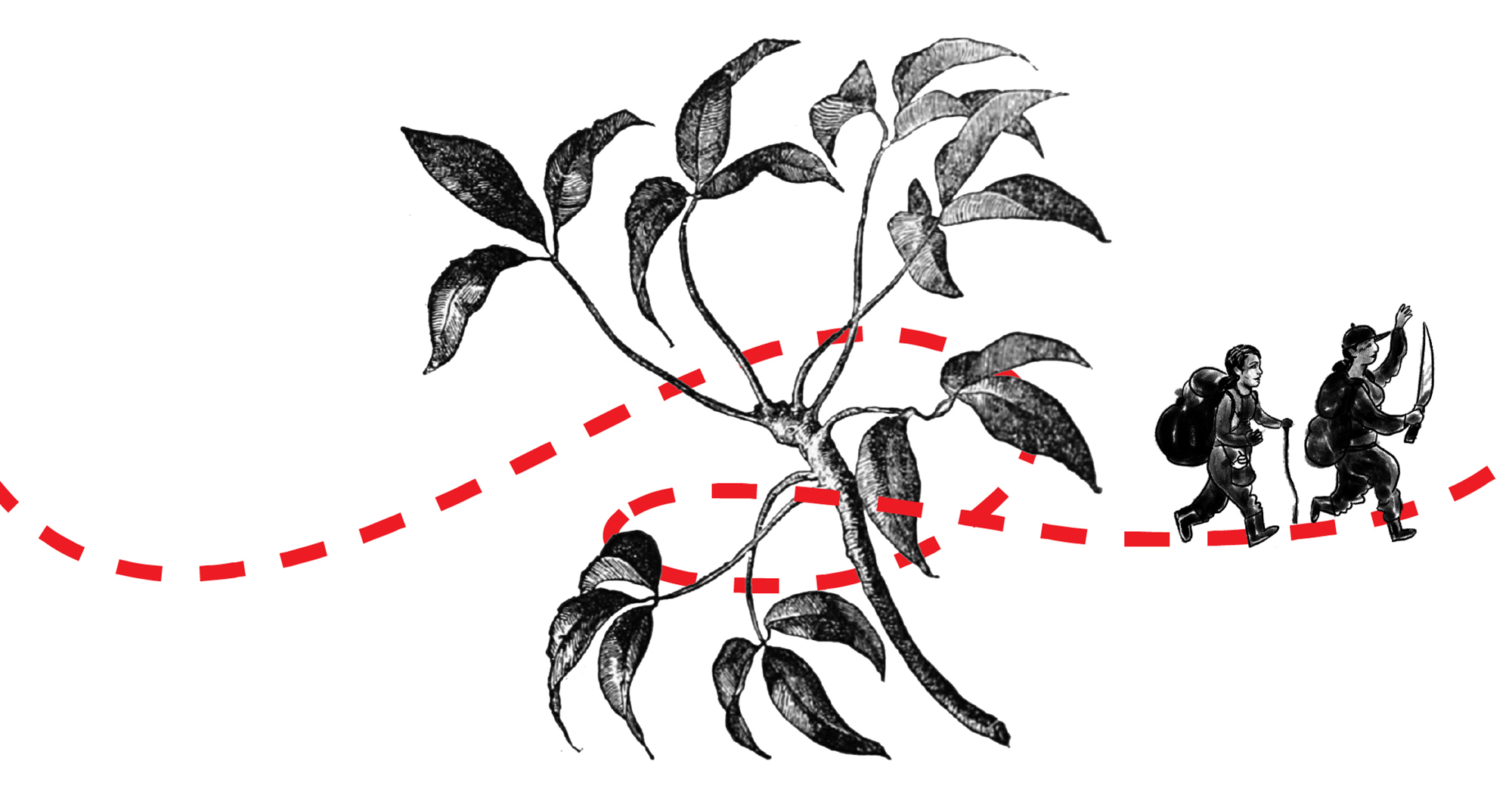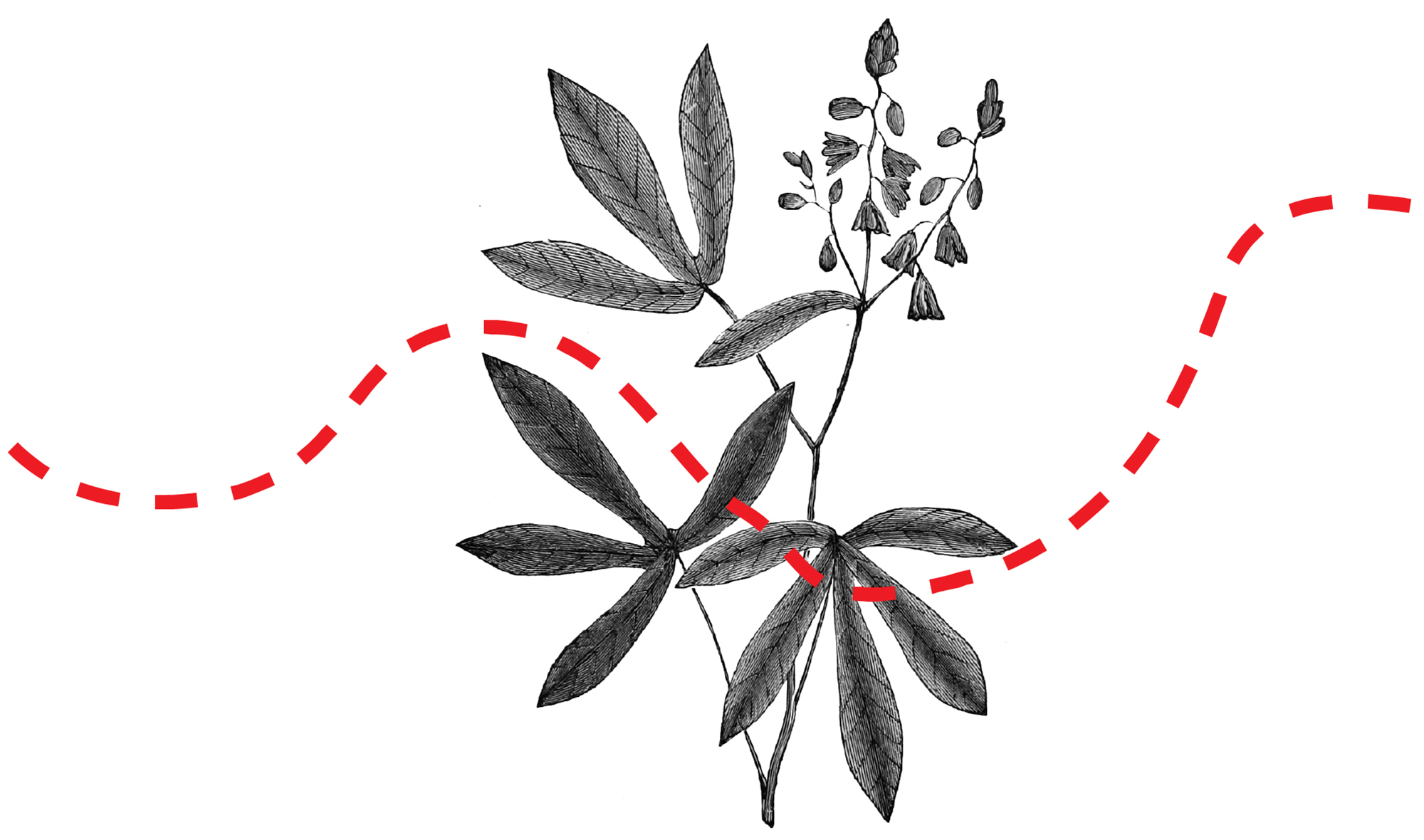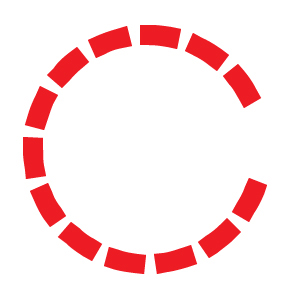
ada pedacinho de terra, por menor que seja, no meio da floresta ou num vaso improvisado em lata na cidade, é lugar para Maria do Socorro plantar uma semente. “Meu neto até diz que eu sou a natureza, porque quero sempre estar perto das plantas”, diverte-se a avó de 61 anos e longos cabelos pretos.
Na infância, plantaram na cabeça dela a ideia de que ser caboclo, como eram chamados os indígenas no Amazonas, era motivo de vergonha. Não pôde nem ganhar o nome de sua etnia na certidão de nascimento. Virou Maria do Socorro Pinheiro de Carvalho. E, mesmo assinando o nome embranquecido, sentiu na pele o preconceito ao entrar na escola da cidade, porque não calçava sapatos. Não permaneceu muito na sala de aula. “Depois dos meus 15 anos, casei com branco. Sofri muito, muito na capital. Eu apanhava muito dele, não gosto de lembrar, não. Tive que fugir.”
Ela pegou os filhos e saiu de Manaus em busca de paz, proteção, recomeço. Responsável pelos atos e pela cria, ela fugiu. Por conta própria, desenterrou a coragem, arrancou de si todo preconceito enraizado para, depois, agir para arrancar o preconceito do mundo. Tornou-se secretária da Associação dos Povos Indígenas do Médio Purus (OPIMP) e foi uma das fundadoras da Associação de Mulheres Indígenas do Médio Purus (AMIMP). Virou cacique da própria aldeia.
Socorro assumiu para si que era mais do que indígena. É, sim, mulher apurinã, e com orgulho, disposta a buscar pra ela, suas descendentes e as parentes espalhadas por esse país o lugar que sempre foi delas. “A gente é tão massacrada como mulher que temos que nos unir e nos defender. E não somente defender as mulheres, mas as crianças, anciões e os homens indígenas também”.

A inquietude dela, a indignação com o descaso, com o preconceito e com a indiferença foram transcendendo. Semeou nos 11 filhos, 46 netos e 10 bisnetos a honradez de ser indígena. Pelo sangue e pelo exemplo, passou às filhas, netas, bisnetas a garra herdada da floresta. Basta conversar com elas para perceber. A neta Anaiza assim se apresenta: “Sou da etnia apurinã, da aldeia Terra Prometida, e venho de uma linhagem de mulheres que defendem mulheres. Sou filha de mulher indígena e homem branco. E sou neta de uma mulher que sempre colocou as mulheres em cima.”
Valorizar o protagonismo feminino e os saberes tradicionais recebidos como herança da avó Socorro era o caminho para chegar onde Anaiza e a mãe Ana Cristina queriam. Era retomar as raízes e, com elas bem fincadas no chão, atingir outros galhos, bem altos. Foi ouvindo a demanda de Socorro e outras mulheres apurinãs que a antropóloga e professora Francine Pereira Rebelo decidiu ver com outros olhos a proposta de um curso de extensão do Instituto Federal do Amazonas.
“As bolsas de pesquisa, ensino e extensão têm esse caráter muito interessante de atingir a comunidade, para o instituto extrapolar os próprios muros. O edital de extensão focava em projetos de empoderamento feminino, relacionados a ideia de geração de renda, de inserção no mercado de trabalho. Então, li o edital e fui conversar com algumas mulheres indígenas para pensar sobre o que a gente poderia fazer juntas. O momento em que fui encontrar com elas foi marcante pois, por acaso, e Daniel Cangussu, indigenista da FUNAI, estava no café aqui em Lábrea. A gente começou a conversar e ele sugeriu um curso para formar mulheres expedicionárias. Essa é mesmo uma demanda das mulheres. Faz tempo que elas questionam porque só tem homem nas expedições”, relembra a professora do IFAM.
“A gente é tão massacrada como mulher que temos que nos unir e nos defender. E não somente defender as mulheres, mas as crianças, anciões e os homens indígenas também”
Maria do Socorro