
aos político, crise humanitária. Pandemia e isolamento social. Em meio a esse cenário desolador, a arte brasileira ferve. E resiste.
Nas brechas outonais do frio paulistano, lá no bairro do Bom Retiro, a magia acontece e une dois pesos pesados da musica popular brasileira. O tempo espiralado dança ao sons de baião, dubstep, maracatu, ska, bolero, psicodelia e outros ritmos de origem africana e latina de ontem e de hoje. Quem puxa a dança é Jorge du Peixe, uma das figuras mais potentes da nossa música, que vem friccionando e expandindo diferentes territórios sonoros e artísticos desde os anos 1990, de quando plantou parabólicas no mangue de onde se propagaram raios que aquecem o mundo todo até hoje. Fervura.
–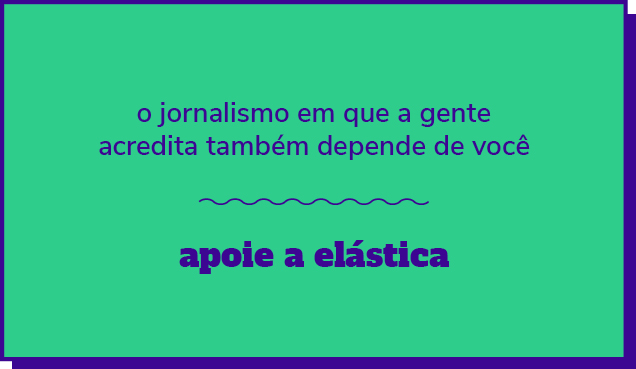
Da revolucionária banda Nação Zumbi até projetos paralelos como o Los Sebozos Postizos, responsável pelas primeiras interpretações dele (de Jorge Ben Jor, no caso), passando pelo Afrobombas, projeto com Lula Lira, filha de Chico Science, Jorge segue produzindo em outros terreiros artísticos como dança (Cão Sem Plumas, de Deborah Colker) e cinema (Amarelo Manga, Febre do Rato e Piedade, de Claudio Assis). Agora, ele se prepara para lançar o álbum Baião Granfino, nesta quinta-feira, dia 16, projeto que traz versões de músicas do rei do baião, Luiz Gonzaga. Atravessado pelo frescor de novos caminhos sonoros e arranjos sofisticados, o álbum é a manifestação de um desejo antigo: “É uma honra. Luiz Gonzaga faz parte da minha memória afetiva. Quem é do Nordeste cresce ouvindo suas melodias”.

“Ele é o criador do baião, um gênero novo, que veio antes da Bossa Nova, que veio antes da Tropicália e que influenciou não só esses dois gêneros como outros tantos que vieram na sequência. E Gonzaga não estava querendo cantar só aquilo. Ele estava querendo descobrir mais coisas”
A escolha da poderosa “Rei Bantu” para abrir os trabalhos foi, no mínimo, sagaz. O single, lançado mês passado, é uma versão do clássico de autoria de Luis Gonzaga e Zé Dantas, pouco conhecida pelo grande publico e que fala da ancestralidade negra do mestre Lua – uma perspectiva pouco conhecida na obra do mestre. “Essa música é muito forte”, explica Du Peixe. “É um grito, um estandarte, do caboclo ali negado pelo baião. É um maracatu de grito de resistência e empoderamento.”
Além de Carlos Malta (sopros), Mestrinho (sanfona), Pupillo (ex-Nação Zumbi, bateria e percussão) e Swami Jr. (violão sete cordas), a faixa conta também com o coro formado por Naloana Lima, Sthe Araújo e Victória dos Santos que remete aos clássicos do samba. “O baião está ali presente, ele é universal. Tem esse lamento, melancolia, próximo do samba”, conta.
É como diz o também pernambucano Siba, do grupo Siba e a Fuloresta: “Essa musica fala de herança afro brasileira, de resistência cultural. Da cultura popular enquanto espaço de afirmação de dignidade e diferença”.
O segundo single lançado foi o clássico eterno dançante “O Fole Roncou” de Luiz Gonzaga e Nelson Valença. A nova versão conta com a participação especial da cantora e compositora paraibana Cátia de França, gigante da nossa música, além de Pupillo, Fabinho Sá (baixo e esraj), Gustavo Ruiz e Lello Bezerra (guitarras).
Pense num papo bom sobre esse mergulho. Vem com a gente:
Como é criar sobre uma obra tão única como a de Gonzaga? E como isso se costura com suas memórias afetivas?
Nesse disco, eu interpreto e passeio pela obra de Luiz Gonzaga. É complicado, porque eu não posso sobrepor minha intenção solo sobre a obra grandiosa que é, a maneira como ele traz as melodias quase lúdicas, do cancioneiro, da caatinga, dessas paisagens. Por outro lado, é muito simples, por ter feito parte da minha vida inteira. Quando volto a ouvir a obra dele para feitura do disco, volto em paisagens que eu já conheço bem. Não é só visitar as paisagens que ele trouxe – todas eu vi de perto. Então, além de ser sobre memória afetiva, é sobre revisitar essas paisagens na minha memória. Eu não sou da zona rural, nasci em Recife mesmo, mas frequentei na infância, adolescência, toda aquela imagem que ele fala, que ele cria, da gente do campo.

E como Luiz Gonzaga foi te acompanhando nas fases da vida, como bboy, por exemplo?
Na época que a gente viveu ali o embrião do hip hop, era tudo a mesma batida, da zabumba e dos toca-discos. E todo mês de junho a gente ia dançar quadrilha ou frequentar a palhoça pra paquerar as meninas. E você ouvia Luiz Gonzaga em todo lugar, na casa dos vizinhos, seus pais ouviam, na época junina… E não era só Luiz Gonzaga, tinha também Marinês, Jackson do Pandeiro, esse universo todo. Mas Luiz era Luiz, louvado e respeitado por todos. A matriz é Luiz Gonzaga, sem dúvida.
Para você, quem é Luiz Gonzaga?
Um inventor de grande importância pra música popular brasileira. Ele é o criador do baião, um gênero novo, que veio antes da Bossa Nova, que veio antes da Tropicália e que influenciou não só esses dois gêneros como outros tantos que vieram na sequência. E Gonzaga não estava querendo cantar só aquilo. Ele estava querendo descobrir mais coisas. Eu estava lembrando aqui que chegaram até a dizer que a voz dele era ruim, né? Engraçado. E o baião virou a música do país por um tempo.
“Nesse disco eu interpreto e passeio pela obra de Luiz Gonzaga. É complicado, porque eu não posso sobrepor minha intenção solo sobre a obra grandiosa que é, a maneira como ele traz as melodias quase lúdicas, do cancioneiro, da caatinga, dessas paisagens”
Essa não é a primeira vez que você interpreta a obra de um mestre. Como você relaciona o Gonzaga com o Jorge Ben Jor, que você interpretou com o Los Sebozos Postizos?
São distintos, porém parecidos. Os dois tem uma fé inabalável e falam de amor, cada um a sua maneira. Os dois falam também de transcendência, de mulheres… É engraçado, tem uma relação, sim. E isso me faz pensar nessa tríade da carreira do Gil, com Bob Marley, Luiz Gonzaga e Jorge Ben Jor. O que me rege é mais ou menos isso [risos]. Luiz Gonzaga sempre esteve do lado, eu cresci ouvindo e vivo escutando até hoje. Não tem como não escutar.
Conta como foi a feitura do Baião Granfino.
A gente estava gravando disco novo da Nação Zumbi com o Apollo no ano passado e decidimos parar por conta da pandemia. Eu não estava com cabeça pra terminar, ainda faltava letra. Me deu uma travada, eu passei a pintar e pensei em lançar coisas autorais. Interpretar Luiz Gonzaga sempre foi uma vontade antiga minha. As primeiras conversas com Fabio Pinc aconteceram lá em 2017, e em 2020 nós retomamos a ideia. Ele passou 2020 fazendo repertório e então batemos o martelo. Daí pensamos nos músicos, em quem toparia gravar nessas condições adversas. 2021 veio e seguimos na produção das gravações, fazendo teste de PCR e a galera toda topou. Em abril as gravações começaram. No meio da pandemia, no frio do outono paulistano, se tocava Luiz Gonzaga ali no Bom Retiro.
Como foi mergulhar em um repertório tão vasto?
O Fabio fazia umas playlists e eu ficava ouvindo as canções originais, sentindo o que queria cantar. É um universo extenso, então é difícil montar o repertório rapidamente. A gente passou praticamente 2020 vendo isso. E também sacar que a obra dele não tinha só baião, tinha alguns boleros também. A gente trouxe um pro disco, que foi a “Cássia Amarela”. Absurdamente lindas as harmonias e melodias dessa música.
Daí todo processo de adaptar para o meu tom. Eu cantarolava aqui de casa no celular e mandava para ele o tom. Depois ele no violão via se o tom era confortável para mim. A gente buscou preservar a espinha harmônica dele mas sabendo que iria levar os temas para outros lugares. A maior diversão era essa! Levar pra algo mais latino, ou de um ska, um dubstep, sabe? E o baião permite isso. A maneira de Luiz Gonzaga cantar permite isso.

Vejo muitas costuras entre você e Gonzaga, desde o caminho artístico, até a relação entre o rural e o urbano, a ancestralidade. A escolha de “Rei Bantu” como primeiro single do disco foi fantástica. Ele abre cantando que o avô dele era rei no Congo, falando das suas raízes negras… Eu não conhecia essa música.
Eu também não conhecia Rei Bantu! O Pupillo tem o vinil mas não conhecia também. Para você ver o tamanho da obra dele. Quem mostrou pra gente foi Fabio. A gente da Nação não conhecia, é muito doido isso! Pupillo tinha feito aquele disco Baião de Viramundo da Candeerio Records… Se a gente tivesse conhecido essa música na época, a gente teria feito essa. Como eu não conhecia essa música? Quando eu sentei no estúdio pra ouvir, eu pensei “O que é isso?” Levada meio maxixe, com um quê de uma volta, mas um quê pra frente também, o backing das meninas…
“Até lembro de quando a Nação Zumbi se instaurou aqui no Sudeste, nas matérias a gente era chamado de vanguarda, de música do futuro do país, ao mesmo tempo a gente era tratado como uma coisa menor. Enquanto o Nordeste sempre gritou e mostrou outro viés de como se pensa o país – inclusive hoje! Em tempos de cultura desqualificada e tanta coisa deixada de lado, em termos culturais, o Nordeste sempre esteve gritando”
Fala do nome do disco.
Tem uma ironia aí. “Baião Granfino”, a música, diz assim: “Ai ai baião, você venceu, mas no sertão ninguém lhe esqueceu. Ai ai baião, siga seu destino, você já cresceu, já nos esqueceu, ficou tão granfino”. Rola muito isso do músico que vem pro Sul e Sudeste se colocar e perde suas raízes. Nunca pensei nesses termos, a gente está aqui em São Paulo mas sempre com a cabeça em Recife. Quando você traz uma obra da sua região, ate hoje escrotamente se fala em música regional. Engraçado que nunca se chamou “música da região do Sul e do Sudeste”, né? E até lembro de quando a Nação Zumbi se instaurou aqui no Sudeste, nas matérias a gente era chamado de vanguarda, de música do futuro do país, ao mesmo tempo a gente era tratado como uma coisa menor. Enquanto o Nordeste sempre gritou e mostrou outro viés de como se pensa o país – inclusive hoje! Em tempos de cultura desqualificada e tanta coisa deixada de lado, em termos culturais, o Nordeste sempre esteve gritando.






