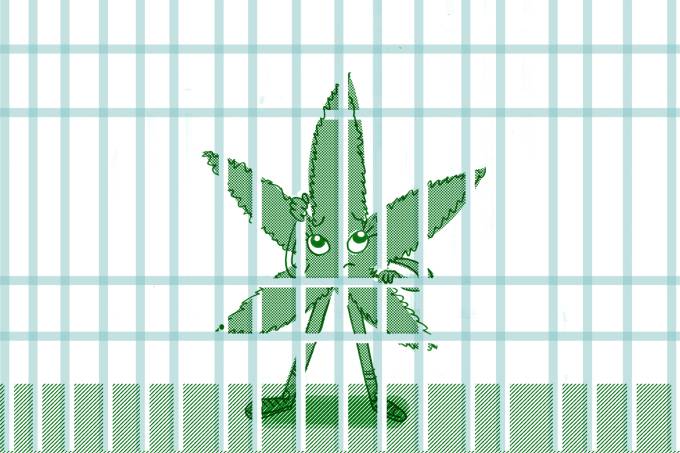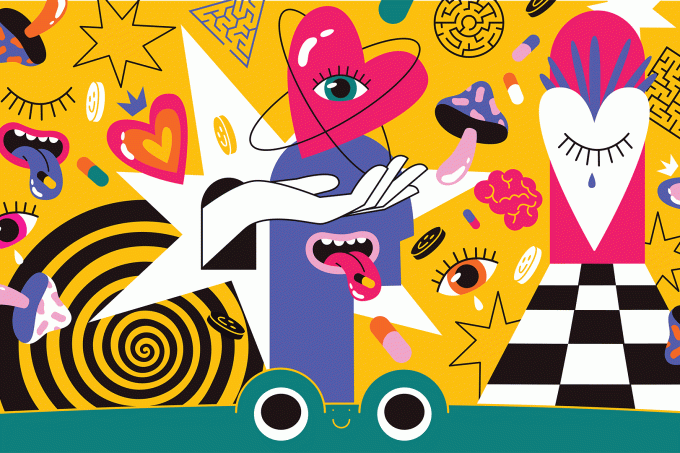ostumamos dizer que o Brasil é um país sem memória. Desde as primeiras caravelas que desembarcaram aqui, a história forjada se deu sob o abuso de povos originários. Os indígenas foram dizimados, e os negros que chegaram através dos navios negreiros deram sangue, suor e lágrimas para a construção de um estado nacional. Aprendemos nas escolas que nosso povo se constituí da miscigenação deles com os europeus, mas deixamos de lado um detalhe fundamental: foi uma miscigenação forçada, produto de abusos físicos dos mais diversos.
Enquanto essa massa que chamamos de brasileiros se formava, o empreendedorismo colonial atuou por cinco séculos em atos de apagamento das culturas ancestrais desses povos. Hoje, boa parte da nossa população não diferencia Huni Kuins, Tikunas, Ianomâmis, Caiapós, Krenakes, Iorubás, Bantus, Congos, entre muitos outros, reduzindo-os a apenas dois grupos: indígenas e negros. Rastrear nossas origens é praticamente impossível nessa nação que não foi construída sob linhagens familiares, e sim sob estupros, incestos, traições. Nessa jornada, instituímos como os saberes absolutistas da nossa nação aqueles vindos da Europa. Aprendemos nas escolas sobre a Grécia, o Império Romano e as racionalizações do pós-Idade Média enquanto tratamos os saberes dos povos amazônicos pré-colombianos e africanos como meras crenças e feitiços, como se fossem produtos pré-históricos e pré-racionais. Pedagogo, escritor, capoeirista, umbandista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Rufino tem debruçado toda sua carreira para entender como organizações ancestrais nos âmbitos da cultura e da espiritualidade podem ser trazidas para nossa contemporaneidade a fim de nos livrar de um “carrego” histórico do colonialismo que até hoje paira sobre nossos corpos e mentes. Autor dos livros Pedagogia das Encruzilhadas, Flecha no Tempo, e Fogo no Mato, esses dois últimos escritos em parceria com outro genial pesquisador carioca, Luiz Antônio Simas, Rufino aborda como a ressignificação de Exu, a incorporação dos tambores, das plantas, da ginga e do samba nos saberes cotidianos libertam a mente das algemas tão bem colocadas pelo pensamento europeu.
Dono de ideias complexas e extremamente necessárias, Rufino conversou conosco sobre um Brasil que se enxerga como democrático, mas que ainda vive como uma sociedade lutando por afirmação. Confira:

Para começar nosso papo, acho que vale fazer um panorama das religiosidades de matriz africana e indígena que existem no Brasil. O candomblé e a umbanda são bastante conhecidos, mas temos por aqui a jurema, a quimbanda, o tambor de mina, entre muitas outras doutrinas. Como essa malha tão vasta se forma por aqui ao longo da nossa história, e permanece viva mesmo com a opressão colonialista?
A leitura que faço está vinculada a um problema político. Parto de uma hipótese de que há um complexo de práticas de saber nesse lugar chamado Brasil, práticas que se estendem para as Américas e transbordam do ponto de vista transcontinental enredando os fluxos transatlânticos, que dizem muito mais sobre nossa capacidade cognitiva possa entender como religião. Quando falamos sobre umbanda, candomblé, babaçuê, tambor de mina, jurema, batuque, terecô, omolocô, os cultos que fazem uso da ayahuasca, vodum, entendo isso como linguagem e experiências paridas em um contexto de guerra colonial, onde emergem como tecnologias ancestrais, repertórios de práticas comunitárias, formas terapêuticas de autocura, maneira de educar, tessituras de modos de sociabilidade e proteção social. A meu ver, essa própria identidade política do estatuto religioso é algo que despotencializa muito essas esferas de saber, de produção de existência, de política da existência.
É impossível que eu não considere que, quando eu toco um tambor, canto um ponto ou baixo um caboclo, aquilo ali é meramente uma missão de caridade. Aquilo ali é uma política da presença. No Rio de Janeiro, a empresa colonial trucidou os povos originários. Você vai em qualquer esquina perguntar quem são os Tupinambás e ninguém vai saber, mas sabem quem é o Caboclo Tupinambá, porque ele continua baixando no terreiro. Mesmo que ele baixe não exatamente como seu ancestral Tupinambá, há uma política da presença ali. Há um engatilhamento discursivo de uma retórica que está indo ao campo de batalha tentar disputar a vida nesse contexto de guerra.
O que tenho defendido é que essas práticas só se dão aqui porque nós vivemos em uma guerra, a guerra colonial fundamentada no paradigma da raça, do racismo, do gênero, do heteropatriarcado, da plantation, da intervenção militar, da catequização, práticas que se dão como políticas de vida. Nós falamos muito sobre necropolítica, mas esquecemos que há um amplo repertório de políticas de vida que estão disputando no campo do sensível o problema da presença. Estão disputando políticas do conhecimento.
Porque o Caboclo Tupinambá baixa, dá um banho de folhas, vai falar sobre um problema de ordem da relação, vai nos invocar a pensar outra ética, outra relação com a comunidade, com o meio, vai falar que seu problema é estar trabalhando demais, que tem que parar de trabalhar um pouco. O que ele está querendo dizer com isso? Será que o problema está na ordem de vida? E, também nos convoca a pensar na escassez de gramáticas. O colonialismo investiu muito nisso, e é algo que percebemos pouco, o ataque ao campo da linguagem.
“É impossível que eu não considere que, quando eu toco um tambor, canto um ponto ou baixo um caboclo, aquilo ali é meramente uma missão de caridade. Aquilo ali é uma política da presença”
A religião no projeto colonial também faz parte de uma intervenção do estado europeu que aporta aqui como estado militar, e que é autorizado a matar e ocupar pelo próprio Deus, pela própria Igreja. O projeto colonial é um projeto teológico-político. E, a matriz do entendimento que temos sobre religião, é uma matriz que codifica as nossas linguagens, subjetividades, formas de entendimento político.
Podemos pensar a umbanda como política?
Por que ela tem de estar planificada nesse chão que é pavimentado por um ethos e uma retórica judaico-cristã, como missão de caridade? Não! A umbanda pode ser política. O contexto colonial nos provoca a viver a contradição, a condição da ambivalência. Mas é uma guerrilha, e ela não é espiritual. É uma guerrilha no plano cosmoperceptivo, no cotidiano. Uma guerrilha da ordem da eficácia simbólica.
Ainda vivemos uma certa dificuldade de transcender essa esfera classificatória que coloca essas praticas de saber, tecnologias ancestrais, formas de criação de comunidade e sociabilidade no lugar da religião porque fomos muito escolarizados na plataforma colonial, que tem como um dos fundamentos a catequese. E, a catequese não é apenas um plano de conversão da fé. É uma espécie de produção de um colonialismo cosmológico. Quando temos a catequização, acontece um giro cognitivo e explicativo de mundo que não nos permite mais pensar o mundo em uma dimensão pluri, então você não tem como explicar, perceber e sentir o mundo de outra forma.
Então, como praticante, a problemática da fé não é um problema para mim. Não é uma questão que me mobiliza em relação à experiência. Porque é concreto, físico e empírico. Quando você consome ayahuasca, é uma experiência arrebatadora. Não está em jogo se você acredita ou não. Você vive. De uma certa forma, você mergulha no rito, em uma interação ecológica que compreende o mundo para ti, e permite que você sinta o mundo, muito mais do que explique o mundo.
O projeto colonial coloniza subjetividades, cosmologias, formas de explicar o mundo, linguagem, e, de certa forma, produz uma destruição dos arranjos comunitários. Então, nós perdemos ao longo de mais de cinco séculos, inúmeras formas de ritualizar a vida. Somos uma sociedade que não dança, não brinca, não vê o sol nascendo, não vê o ciclo da vida como um todo. Isso não é à toa. Não é porque somos insensíveis. É porque há um investimento em nós, nesse ideal de humano, de feitos à imagem e à semelhança de Deus. Porque, quando pego meus caroços, minhas folhas de dendê, elas têm personalidade, são dotadas de inteligência. E não estou achando que aquilo é uma mera metáfora de outro humano que ali habita. É uma espiritualidade que se lança na relação comigo. A ayahuasca é um espírito da folha e do cipó, que te desperta, te convoca a um diálogo.
É possível concebermos um mundo dentro dessa estrutura tão recente colocada para nós, Um recorte de análise do mundo que impacta na ordenação do mundo? A colonização precede a modernidade, e firma os contratos e o funcionamento do mundo hoje.
“O projeto colonial coloniza subjetividades, cosmologias, formas de explicar o mundo, linguagem, e, de certa forma, produz uma destruição dos arranjos comunitários. Então, nós perdemos ao longo de mais de cinco séculos, inúmeras formas de ritualizar a vida. Somos uma sociedade que não dança, não brinca, não vê o sol nascendo, não vê o ciclo da vida como um todo. Isso não é à toa”

Em seu livro Pedagogia das Encruzilhadas, você se debruça sobre a figura de Exu para explicar como o colonialismo funciona como uma espécie de reprogramação sociocultural dos povos africanos. De que maneira o cristianismo atua no descrédito das divindades africanas e dessas tecnologias ancestrais?
A minha tese sobre Exu, assim como o próprio, é múltipla. Exu existe e é praticado no Brasil como marcador da continuidade dessa guerra colonial, e como um marcador de como o projeto colonial não venceu essa disputa. O projeto se pretende único, dominante, mas o fato de você ter pessoas cuspindo cachaça na encruzilhada, acendendo velas, baforando um charuto, nos indica que há uma disputa no campo sensível.
Ao mesmo tempo, tenho defendido que Exu não é pintado como o diabo, interditado, constituído como impossível, à toa. Não é por mera ignorância, não é por mera tacanhice, mas pelo entendimento que esse projeto que se quer único tem de sua força e potência. Você anda pelo país e vê as pessoas dizendo que só Jesus expulsa Exu das pessoas, ou ouve a máxima proferida nas neopentecostais, que é “sai desse corpo que não te pertence”. São articulações discursivas que trazem para nós o ideal de uma política que, de certa forma, regula o corpo, a cognição, o imaginário, a liberdade. De uma certa forma, produz uma espécie de amordaçamento, de despotencialização, de produção de escassez em torno de outros referenciais.
Escolhi Exu para dissertar mas poderia ser outro: a folha da jurema, o cipó da ayahuasca, Tupã, o Saci Pererê. Exu é fundamental porque, no contexto do Novo Mundo, da diáspora africana, ele será o signo que mais vai confrontar essa lógica produtora de escassez, essa lógica que investe no desmantelamento cognitivo, de desarranjo da memória, de linearização do mundo.
É aí que entra a encruzilhada como signo máximo. As pessoas dizem que o Brasil está em uma encruzilhada. Não, não está. Porque a encruzilhada não é o ponto limite. O ponto limite é acreditarmos que a vida é uma linha reta, que a encruzilhada é um lugar de chegada. Porque a encruzilhada nos mobiliza a pensar a potência máxima de Exu, que é a alteridade, a responsabilidade, o vir a ser. Ou seja, o caráter inconcluso do ser humano e de todas as coisas. E que nos coloca um problema. O mundo não é, ele está. Porque nós o fazemos assim. Como nós podemos responder de outra maneira?
Perceba que esse cara que é pintado como o Diabo, fonte de todo mal, é o cara que vai nos questionar acerca de uma ética responsiva. Muito parecido com Cristo. É o cara que vai falar: “você, ser humano, é arrogante.” Porque, de fato, não entendemos essas esferas que nos interrogam, nos questionam.
O projeto ocidental europeu elege a cruz como sua égide. Se você pensar qual signo os nativos dessas margens pindorâmicas viram quando os europeus chegaram, provavelmente foi a cruz no alto de uma caravela. E, como essa cruz vai sendo usada aqui de outras maneiras? Praticada de outras formas? Porque a encruzilhada é cruz, mas é um campo de possibilidades de invocação da vida, do caráter autônomo, que remonta à radicalidade desse signo. Me preocupa, no final das contas, nos perguntarmos porque esquecemos disso tudo. Ou, por que nós não trabalhamos com toda a potencialidade disso? Porque os povos de terreiro trabalham, não é à toa que eles existem. E isso transborda os terreiros. Está na capoeira, no samba, no cotidiano, nos modos comuns, na rua, na esquina, no ir e vir. Por que, de fato, não conseguimos estabelecer diálogo? Porque essa guerra é permanente e extremamente violenta. “Só Jesus expulsa o catiço das pessoas” é de uma violência absurda.
E se apaga também a qualidade de abrir caminhos que Exu tem, em um sentido de que sem Exu você não alcança lugar nenhum.
Exu para os Iorubás, e de certa forma ele é ressemantizado assim no Novo Mundo, é um princípio que versa acerca de toda e qualquer possibilidade de criação. Ele é um princípio de toda e qualquer existência. É um princípio que versa sobre qualquer possibilidade de interação. E, por isso, toda e qualquer possibilidade de diálogo, de inteligibilidade. Ou, até mesmo, de contradição. O fato de existir discordância não quer dizer que não tenha inteligência. Ele é também um fundamento de toda e qualquer produção de conhecimento, de saber e de linguagem. Perceba comigo. Esse cara é um fundamento que diz das presenças, do saber, das linguagens, e de como nos relacionamos com tudo isso.
Se você o interdita, de certa forma pavimenta o caminho para qualquer outro projeto que se quer único se solidificar. E você, de uma certa forma, tem um projeto que vai fazer um rompimento. Ele não mais opera em uma premissa ecológica, de responsabilidade com a diversidade, integrando tudo. Vai trabalhar com a ruptura entre o humano e a natureza. Você tem na figura do humano, que é branco, homem, cristão, a imagem e a semelhança de Deus. E tem todo o restante como aquilo que pode vir a ser alterado por esse ser timbrado, autorizado, para exercer a mudança do mundo. Mas, uma mudança em que ele não está em uma condição de horizontalidade com aquilo que vai ser alterado. Se estabelece uma hierarquia com uma autorização divina, que não é meramente Deus enquanto uma abstração. É o Estado, um projeto imperial, de dominação, monocultural, monoracional, monolinguísta.
Agora, obviamente que as coisas não são tão simples assim. Há disputa, há contra-ataque, há também formas de burlar e reconstruir esse projeto. E então acontece aquilo que tem acontecido nesse país, essas políticas emergirem como esferas do sensível, como poéticas cotidianas, que de certa forma vão educando o povo, ensinando formas de se tratar, de se curar, de resistir, de inventar um outro mundo possível.

Sobre isso, você nota que o colonialismo impõe à sociedade uma dualidade de bem contra mal, céu contra inferno, o que, em última instância, se torna branco contra negro, iluminado contra selvagem. Como o medo às diferenças e essa binaridade tornam o racismo e a opressão mais agudos?
O colonialismo não é um evento datado. Aquilo que aprendemos na escola é a primeira coisa a se questionar. A colonização é a instituição de uma guerra de dominação. Sendo que esse evento está alicerçado em algumas esferas. A invenção da raça, do racismo, além da contratualidade de gênero, a contratualidade heteropatriarcal, a contratualidade antropocêntrica – a divisão entre homem e natureza – balizam esse projeto de dominação.
Não tenho dúvida que o colonialismo vai incursionar na produção dessa realidade cindida. Do eu e do outro. Sendo que esse eu e outro não são fundamentados por uma relação de alteridade, uma relação dialógica. Esse outro, essa produção de uma outridade, é constituído como uma impossibilidade. Só existe o eu a partir da destruição do outro. Não há uma relação responsável e responsiva com o fenômeno dialógico. Isso é completamente contrário a um princípio explicativo de mundo como o que Exu nos traz. Porque Exu é o eu no outro, em tudo. E ele é o elemento inacabado. É proeminentemente o princípio de tudo, como também é aquele que dá a condição de inacabamento em tudo. Por isso que se traduz Exu como um princípio dinâmico do cosmos.
E, de fato o colonialismo vai investir nisso. A própria constituição da raça como princípio de dominação estabelece isso. E estabelece isso para além da construção fenotípica, de um marcador de diferença que está engendrado no corpo. Há uma negrura que transborda para o campo do saber, das práticas comunitárias, da memória. E isso tudo é alvo de aniquilação.
O racismo é um sistema total que vai inferir em atos de violência e terror, que vai desde a discriminação, da injúria à presença do ser, mas até as práticas de saber. Aí que está o barato da branquitude, de entender como ela joga. Ela é tão sofisticada a ponto de se tornar um sistema que regula tudo, que investe para que isso aconteça, mas que não se evidencia como tal, como sendo o outro. Então, controla sem ser controlado. Questiona sem ser questionado. É profundamente irresponsável, porque age em uma abstração que ele mesmo gerou, um consenso sobre sua naturalidade, que é seu poder invisível de ditar regras.
A encruzilhada não é antiocidental. Não é antibranca. Ela é, a rigor, um signo negro africano. Tem essa identidade política. Trabalha não com a exclusão do outro, e sim com a presença desse outro. Mas com a impossibilidade desse outro de se estabelecer de maneira hierárquica, abusada, subordinante. Esse outro está em uma esfera de horizontalidade, de multiplicidade, onde ele responde a todo o momento com sua própria vida. A branquitude não responde com a própria vida, e sim com seu privilégio, com seu poder. A encruzilhada desfaz aquela ideia que nos é tão comum, que é a Europa no centro do mapa-múndi, e diz que a Europa é só mais uma esquina. Assim como é Madureira, o Vale do Jequitinhonha, o Bronx, a Amazônia colombiana. É mais uma esquina. O saber produzido na Sorbonne é o mesmo saber, no sentido de força criativa, que está sendo produzido agora em qualquer outra esquina do mundo.
Então, por que estabelecemos assim? Essa dimensão de um mundo partido é contestada o tempo todo pela encruzilhada, porque ela está dentro de um espaço biocósmico, ecológico, que não pode se dividir, se colocar na esfera da “cidade do colonizado” e da “cidade do colonizador”, como diz Frantz Fanon. O branco e o preto, a luz e a treva, Deus e o diabo. O diabo seria até mesmo uma contradição existencial, se formos problematizá-lo.
“A encruzilhada desfaz aquela ideia que nos é tão comum, que é a Europa no centro do mapa-múndi, e diz que a Europa é só mais uma esquina. Assim como é Madureira, o Vale do Jequtinhonha, o Bronx, a Amazônia colombiana. É mais uma esquina. O saber produzido na Sorbonne é o mesmo saber, no sentido de força criativa, que está sendo produzido agora em qualquer outra esquina do mundo”

No Brasil, a mestiçagem é uma realidade, e atinge a espiritualidade com o sincretismo religioso. O que explica a sociedade se denominar cristã, mas pular sete ondas para Iemanjá, e confundir orixás com santos católicos, a ponto de considerarmos Ogum como São Jorge, Oxum como Nossa Senhora, e Oxalá como o próprio Jesus Cristo?
Acho que precisamos pensar isso algumas frentes. O Antônio Bispo dos Santos, que é um pensador quilombola, diz uma coisa que é genial: “o problema não é ser cristão, e sim ser cristão monoteísta”. Na verdade, ele nos provoca a pensar o que está sustentando essa reivindicação entre ser isso ou ser aquilo. Obviamente, no contexto brasileiro, em uma sociedade que é alicerçada no paradigma da violência racial, um investimento para que pensemos essa mestiçagem cultural como uma esfera democrática. Isso não é nenhuma novidade, já foi denunciado, é uma luta do movimento negro organizado, de que isso é um parâmetro de dissimulação da sociedade, que se apoia na retórica do ethos judaico-cristão da inocência, da culpa, do perdão, para continuar a produzir isso, e não colocar na mesa a grande questão da responsabilidade e da justiça, seja ela social ou cognitiva.
Acho, honestamente, que precisamos entender o fenômeno do sincretismo de diversas maneiras. Tem uma esfera dele que se manifesta em prol dessa política racista, que simplifica, embranquece e se apropria de referenciais explicativos de mundo completamente complexos e diversos, que não tem sua força ou integralidade garantidas quando são equiparados a outros. Mas, há também outra coisa, que prefiro chamar de fenômeno do cruzo, que é a capacidade de você produzir travessias e constituir a experiência de uma perspectiva não mais monoracional, binarista ou monolinguística, mas pluriversal, plurirracional e plurilinguística.
Você pode ir para a umbanda e a pessoa falar para você que o São Jorge que ela está cultuando é Ogum. Mas você também pode ir para uma umbanda e ter uma pessoa cultuando Ogum e sendo devoto de São Jorge. E, de certa forma, nessa relação entre São Jorge e Ogum às vezes vai baixar um caboclo da linha de Ogum, que é um indígena trabalhando, sem que haja anulação da figura de um ou de outro. Porque essa experiência também se constituiu como um fenômeno polirracional, possível de ser pensado na alteridade, na contradição e na ambivalência.
Há, inclusive, uma coisa que precisamos trazer para a discussão, que é estarmos falando de um choque entre experiências de mundo que versam, muitas vezes, na lógica de uma espécie de xenofobia, de dominação ou recusa do outro, enquanto também temos práticas que são adeptas da xenofilia, que é a integração da diferença. Então, me chama atenção estarmos atentos aos enunciados. Escrevi com Luiz Antônio Simas, no livro Fogo do Mato, um capítulo que fala sobre “gongá de santo” e “altar de orixá”, e terminamos com a seguinte discussão: há também no repertório das categorias nativas, enunciadas, por exemplo, a partir de um ponto cantado, da boca de um encantado, que vai dizer: “São Jorge é meu padrinho”. Se Seu Zé Pilintra diz que São Jorge é padrinho dele, se Seu Tranca Rua vai dizer que Ogum é quem ordena o caminho dele, quem sou eu para dizer que sim ou que não? Há algo mais profundo ali.
Acho que é muito difícil entender ou alcançar até que ponto essas políticas cósmicas vão se tramando para a produção de um repertório estético, ético e tátil, completamente inventivo e contemporâneo que está disputando uma outra coisa. Porque até mesmo esse branco que é colocado ali é visto sob uma condição de rasura. Porque é “o branco não exatamente”. Se você olha para o centro do Rio de Janeiro, que tem uma composição de igrejas históricas e centenárias, são igrejas de grande parte constituídas de irmandades negras que têm uma codificação de terreiro. E, no Rio de Janeiro, há a presença dos grupos bantufônicos, que já eram grupos que tinham uma experiência de cruzo e de violência colonial, de imposição desses repertórios, mas também de táticas de reutilização muito antes do tráfico humano deles para cá.
Tá tudo posto é o Estado-Colonial contra a Aldeia. Não tem dissimulação, é guerra!
— Luiz Rufino (@LuizRufino6) September 24, 2019
Talvez nos falte ainda olhar para essa dimensão da problemática do sincretismo como uma problemática encruzada. Não mais lida sob a dicotomia do sim e do não, ou do quem coloniza quem, mas dos caminhos possíveis.
No tambor de mina, no babaçue, no terecô e em outras espiritualidades do norte do país, você tem um fenômeno chamado Virada da Mata, no qual uma princesa turca marcha como cabocla, e Dom Sebastião, rei de Portugal, baixando como vodum. A questão aí é outra. Não é meramente. A princesa turca se transmuta também como uma arara. Ela foi engolida por um perspectivismo indígena ameríndio. Ela assume uma face zoomórfica. O rei de Portugal se transforma e baila como um boi. Então, a gente precisa se atentar a essa política mais ampla.
O problema da umbanda é que ela quer ser entendida como síntese embora esteja nesse lugar que é muito alvejado pela narratividade de um projeto de nação extremamente racista. E ela não é síntese, e sim um enigma, um feitiço. É aquilo que vai complicar mais ainda. Todo feitiço é duplo, triplo.
É possível que entendamos uma militância de combate ao sincretismo em favor de uma identidade política que é violentada pelo racismo e pela branquitude, mas é fundamental que vejamos outras possibilidades, olhando a partir do paradigma da complexidade, não da simplificação. O paradigma colonial, enquanto estruturante na nossa forma de vida, ele vai, de certa forma, vai tender para a binarização e simplificação das coisas. Então, me interessa mais pensar como uma princesa turca ou um rei europeu se tornaram bicho aqui. E são bichos, porque foram invocados como tal. Será que não seria, aí sim, uma resposta política a essa agência da branquitude?
A questão do colonialismo na espiritualidade é bastante enxergada sob a ótica de pretos e brancos, mas afeta também os indígenas. Por aqui, doutrinas como o Santo Daime e a União do Vegetal se apossaram da ayahuasca para transmitir as palavras da cristandade. E, o curioso é que os fundadores dessas doutrinas eram negros. Para além da ayahuasca ser usada dentro da cristandade, ela também se tornou uma moeda muito valiosa por muitos aproveitadores da fé. Por que o colonialismo não respeita identidades, e sim se apossa delas em seu projeto de expansão?
A síntese é um problema. Nós precisamos entender que aquilo que nos permite uma percepção do mundo como uma ecologia de pertencimento é a diferença. Enquanto ficarmos perseguindo a síntese, acho que vamos cometer injustiças e produzir desigualdades, sejam elas sociais ou cognitivas. O curso é ecológico, é o paradigma da diferença e da percepção da vida como uma esfera que está em tudo. É um paradigma da ordem do encantamento. Nós vivemos um mundo desencantado porque tiramos a vida das coisas. Não reconhecemos essa dimensão ecológica. Considero que a identidade em si é uma reivindicação do ser. Ela está ligada não meramente a um problema da ordem da representação, mas também a uma dimensão estética na ordem da vibração do ser.
O que quero dizer: a identidade é um problema não da fixidez do ser, não da absolutização do ser, mas sim da ordem da capacidade do ser se reivindicar como algo inacabado, inconcluso, em inscrição. E, obviamente, estamos nos relacionando com um projeto que só é possível a partir da destruição desses outros seres.
Acho violentíssima a ideia do identitarismo. Porque se coloca, por exemplo, a raça como problema existencial do negro ou do indígena. Porque o indígena é constituído a partir da contração do branco e do outro. Então tudo que não é branco ou europeu é indígena. Só existe raça para esse outro? Por que a raça não é um problema da ordem da identidade política do branco? É normal isso? É comum? Qual é o problema ontológico da espiritualidade ou da política da ayahuasca? É a possibilidade de você ser planta, de existir um espírito na planta. É um espírito que nos altera a partir de uma condição ontológica. Você explode em uma existência ecológica, porque tem uma outra existência te convocando para um diálogo e te revelando outras coisas, te fazendo se perceber como planta, rio, vento.
“Nós vivemos um mundo desencantado porque tiramos a vida das coisas. Não reconhecemos essa dimensão ecológica. Considero que a identidade em si é uma reivindicação do ser. Ela está ligada não meramente a um problema da ordem da representação, mas também a uma dimensão estética na ordem da vibração do ser”
Então, há outra questão da identidade que é pouco considerada, mas que já avançou muito na sociedade brasileira, que é entendê-la como a necessidade da reivindicação de um debate político que não é estagnado, é processual, e que revela que existem contratualidades postas que não operam para todos os seres de forma igualitária. Não há uma equanimidade aí. É muito complicado reivindicar a qualidade de humano em uma sociedade racista. Por isso que temos que discutir racismo, gênero, aprender outras dimensões.
Gosto muito quando o Aílton Krenak faz menção ao rio como o avô. Uatu é o avô da minha comunidade. Não é uma metáfora. É de fato o avô. Então, a que nível de sociedade precisamos chegar para entender aquilo que o Aílton Krenak nos chama atenção? Não é um problema da identidade dos krenakes. É um problema da ordem da diversidade do mundo, da diversidade de possibilidades de coexistir. A identidade não como um problema da fixidez do outro, mas da possibilidade de relação na diferença.
O Brasil da ditadura militar e o Brasil de Bolsonaro têm em comum um discurso de integração étnica. Para a branquitude acrítica – citando as palavras do pesquisador Lourenço Cardoso –, fim do racismo significa fim das lutas do movimento negro e socialização dos indígenas para dentro da cultura eurocêntrica. Existem alternativas para a igualdade racial para além da proposta colonial?
É uma pergunta difícil, porque o paradigma da raça não implica um problema da ordem da igualdade. Para nós, ele se institui como um elemento que vai produzir desigualdade. Ele é estrutural e estruturante na produção de desigualdade. Também nós hoje talvez não consigamos perspectivar um mundo pós-racial. Talvez essa ideia de pós-racismo seja uma das mais dissimuladas. Somos todos humanos, portanto o racismo é um problema da ordem da linguagem. Ele se lança para nós, produz subjetivações e, de certa forma, molda uma teia de relações e de constituições no vir a ser.
Em um contexto como o que nós vivemos, no Brasil e no mundo, onde o racismo é um pilar, acho que o problema seja outro além da igualdade racial, mas sim da responsabilidade em viver em um mundo que é diferente. Um mundo que, quando o branco racializa, quando ele constitui o outro como negro ou indígena, ele também está se racializando. Ser branco é também uma identidade racializada. Acredito que precisamos confrontar uma ideia de nação que é muito injusta com a maior parte de sua população, que é negra, indígena, mestiça de fato – parte de uma mestiçagem que não os garante o privilégio branco, os coloca numa condição do não ser, do desvio.
Talvez poderíamos pensar em uma sociedade que mirasse essa ecologia de pertencimentos. Essa ecologia semântica. Não mais um estado nacional, mas talvez um estado plurinacional. Incrível como, por exemplo, os terreiros brasileiros se constituíram como nações, essa experiência desterritorializada. Como as comunidades indígenas estabeleceram formas de compartilhamento de solidariedade onde se veem como parentes. Como o povo que vive na rua estabelece um código ético de identificação que os coloca na necessidade de tecer redes de proteção e formas de sociabilidade que os resguardem nessa ofensiva que não os inclui.
Sobre a re-existência como revide: Descolonização – Outras formas de sentir e ser- Encantamento como política cotidiana- Alargamento das Subjetividades. Eis, o lastro da flecha que atravessa o tempo
— Luiz Rufino (@LuizRufino6) September 17, 2019
Honestamente, acho que nós precisamos, de fato, ainda mexer na cumbuca. Talvez a nação ainda seja uma impossibilidade para nós, na medida que ainda somos colônia. Eu bato ainda na tecla de que ainda vivemos em um estado colonial. Tem muita gente que me questiona dizendo que somos um estado democrático de direito. Não estou fazendo nenhuma briga contrária. Por mais que vivamos em um estado de fascismo social, o estado é democrático. Mas, é fundamental que reconheçamos essa pavimentação do que nos leva a ser o que somos hoje. Somos uma nação parida dentro do próprio império, isso é muito particular do Brasil. A proclamação da república é dada pelo príncipe regente. Nós somos, de fato, uma sociedade escravocrata. Por mais que tenhamos abolido a escravidão, sabemos que essa abolição não é verdadeira. Há toda a engenharia de dominação e subordinação amparada na raça operando ainda nesse estado.
Então, talvez a gente ainda precise enfrentar o problema colonial. Por isso que bato muito na ideia de uma descolonização. Talvez o nosso curso é enfrentar a descolonização como forma de invocação de vida.

Também na Pedagogia das Encruzilhadas, você fala muito sobre emancipação através de métodos de ensino que vão para além da escola, métodos ancestrais que vão do toque de tambor à ginga da capoeira, da riqueza das tradições orais, da malandragem. De que maneira a brancura pode se beneficiar de uma pedagogia tão rica?
A branquitude também é uma agenda curricular. Ela só consegue se perpetuar com uma espécie de escolarização – que, nesse sentido, não tem a ver com educação. A educação talvez iria na contramão dessa promoção de manutenção dessa agenda curricular. A educação antirracista, que mira a descolonização, deveria exatamente se questionar acerca de como eu posso responder ao outro com a minha própria vida. Se esse outro é diferente de mim, essa resposta perpassa por uma alteração desse eu e desse outro. Aí sim se institui uma relação dialógica.
Há a necessidade de uma desaprendizagem do cânone. A branquitude é um cânone. É fundamental desaprender, transgredir, rasurar essa agenda curricular através de outras formas de educação. Essas gramáticas presentes nos modos de vida dos terreiros, das aldeias, das rodas e das esquinas podem nos propiciar cursos educativos que potencializem essa experiência de desaprendizagem do cânone. Porém, esse cânone branco tem ainda uma maneira muito sofisticada de se relacionar com isso, que é, muitas vezes, aderindo esses repertórios como uma espécie de fetiche. Há uma fetichização absurda.
Quando proponho pensar Exu como política, ética e epistêmico, Exu não é uma metáfora. Exu é de fato uma esfera complexa, integral, daquilo que estou aqui questionando como uma política da presença, do conhecimento, como uma ética e uma educação. Se penso Exu apenas como uma metáfora, estou fetichizando Exu. Se penso Exu como um elemento que precisa ser analisado a partir de um aparato teórico branco, estou me apropriando de Exu. E assim vai por tantas outras coisas.
Existe nessa perspectiva de desaprender do cânone uma necessidade de política afirmativa na esfera do conhecimento. Não é agora o saber indígena, o saber quilombola, o saber da mulher, da criança, do ribeirinho, do povo de terreiro como alternativas. Não é uma alternativa porque não tem centro de nada. São existências que compõem e coexistem, que precisam ser credibilizadas porque há uma demanda de justiça cognitiva. O pensamento indígena, o espírito da folha, tem que entrar na universidade como alguém que vai falar a partir dele. E compor uma rede de circulação de experiências e trocas equânimes, horizontais, que de fato venham produzir essa justiça cognitiva e social.
“Exu não é uma metáfora. Exu é de fato uma esfera complexa, integral, daquilo que estou aqui questionando como uma política da presença, do conhecimento, como uma ética e uma educação. Se penso Exu apenas como uma metáfora, estou fetichizando Exu. Se penso Exu como um elemento que precisa ser analisado a partir de um aparato teórico branco, estou me apropriando de Exu. E assim vai por tantas outras coisas”
Não há um curso, uma descolonização, que não faça parte de um processo educativo, de um processo de aprendizagem de vir a ser. É pensar, ao contrário de uma agenda curricular, de uma escolástica branca da dominação, formas de aprendizagem ou formas de desaprendizagem sobre esse cânone.
O currículo pedagógico nacional exige que as escolas ensinem sobre a história dos povos originários africanos e indígenas, mas isso não condiz com nossa realidade. A introdução séria dessas temáticas ajudaria em uma construção social menos racista em gerações futuras?
Nós só temos políticas como as leis 10639 e 11645, que versam sobre a obrigatoriedade dos conteúdos sobre a história dos africanos, afro-brasileiros e indígenas, como resultado de uma luta histórica dos movimentos sociais dessas pessoas que reivindicam que são negros, pardos e indígenas. Que estão reivindicando ao longo de muito tempo, há mais de um século, que não há abolição sem que haja autopromoção. Isso implica diretamente em garantir o tratamento digno nos espaços de formação.
A gente vive em uma sociedade racista, que inclusive vai estabelecer uma relação com tudo isso de maneira muito dissimulada. No caso das leis 10639 e 11645, estamos falando de leis obrigatórias que muitas vezes não são cumpridas. É como se falássemos que grande parte das escolas brasileiras têm uma relação de descumprimento da lei. É como você dirigir sem cinto de segurança. Grande parte, quando cumpre, ainda cumpre em um movimento de reificação de imaginários racistas, de fortalecimento de estigmas e estereótipos. Ou seja, aborda a lei, mas no 13 de maio, no 19 de abril, no 20 de novembro. É o que o professor Amauri Pereira chama de uma relação de pós-racismo, uma relação dissimulada. E tem aqueles que se comprometem e entendem que o impacto da lei teria mais abrangência se estivesse enredada com outras políticas, que vão desde ações afirmativas nas universidades e em outros setores, em manter uma política de reposicionamento, daquilo que pensamos como a presença, o protagonismo, o direito a ocupar determinados lugares de fala.
Me chama muito a atenção quando você já tem essas coisas na escola e elas não emergem. Dentro da escola você tem uma neta de uma ialorixá, que o pai é compositor de uma escola de samba, um imigrante, um indígena, muitas vezes em contextos urbanos. E, muitas vezes, você vai se relacionar com essas pessoas como se elas ainda precisassem ser ensinadas sobre algo que, na verdade, é parte de um pertencimento delas.
Uma vez, quando eu estava no interior do Pará, me assustou muito uma situação. Era uma região de presença forte dos Kayapós e tinham escolas que atendiam os estudantes indígenas, e exatamente no dia 19 de abril, as crianças começaram a sair delas exatamente vestidas de índio. Uma amiga inclusive chamou a atenção para o fato, indígenas fantasiados de índios. Como é isso, as crianças saírem da escola vestindo cocares? Qual é a dimensão do dia 22 de agosto, em que você tem o Saci aprisionado em um mural, e não há um entendimento de que esse é um princípio cosmológico das tradições afropindorâmicas, dos povos originários daqui. E você muitas vezes têm um avô que vive na roça e ritualiza o Saci, que vai entrar no mato dando uma cachacinha, um fumo.
Para que tenhamos um salto nessas dimensões, há a necessidade de pensar a problemática do conhecimento e da política do conhecimento como também uma problemática étnico-racial. Não adianta garantirmos a obrigatoriedade desses conteúdos se as esferas de conhecimento que estão sendo acessibilizadas ainda estão em modos dominantes. Então, há uma necessidade de ação afirmativa no campo do conhecimento. Há uma necessidade de desaprender do cânone.
Recentemente, o Fantástico exibiu uma reportagem sobre um menino de Alenquer, no interior do estado do Pará, que assiste aulas em cima de uma mangueira. É um símbolo de superação porque, nesse período de ensino remoto, ele assiste as aulas em cima de uma árvore, que é o único lugar que consegue pegar o sinal de celular. Teríamos muitas discussões para fazer em relação à precarização, à romantização do precário. Mas, uma das questões que me aparece, é porque não entendemos que as escolas e espaços educativos precisam de espaços de mata. Porque a mata é parte de um repertório de conhecimento fundante de boas partes dessas populações. Esse país é habitado por povos da mata, os sertanejos, os ribeirinhos, o povo de terreiro. Por que não temos mato dentro da escola? Não é para você subir para pegar sinal da internet. Por que não temos, como os indígenas dizem, as plantas professoras?
Então, é fundamental fortalecer a toada da lei como uma conquista histórica e algo que tem que de fato ser praticado, mas precisamos também problematizar algumas armadilhas que estão impostas. Porque há uma possibilidade gigantesca de reificação de estigmas, estereótipos, manutenção do racismo como uma engenharia muito sofisticada no plano da dissimulação e da inocência.

A mídia, que também é um campo pedagógico, no sentido de disseminar ideias, contribui para o colonialismo sobre as identidades negras nos ensinando que os negros são bons cantores, dançarinos, esportistas, que têm uma beleza estética exótica. No entanto, quando o pensamento negro atinge a mídia, ele é interpretado como combativo, radical. Como descolonizar os corpos negros e torná-los cérebros negros?
A questão não é tirar o corpo e evidenciar o cérebro. É perceber o mundo de uma outra maneira, integral. A máxima descartiana do “penso, logo existo”, edifica um projeto de um projeto de consciência, de racionalidade, que descredibiliza o corpo, o corpo animalesco, do pecado, da selvageria, dos impulsos. O caminho é o contrário, é entender que o que o Garrincha faz com o corpo são saberes sofisticadíssimos. O tambor é uma corporeidade. A ginga é uma esfera de produção de conhecimento. Esses caras e mulheres teceram filosofias. As crianças concebem modos de aprendizagem. A credibilização disso não passa por evidenciarmos uma consciência ou um cérebro, uma racionalidade. Pelo contrário. Vai na confrontação da fetichização do branco com isso. Da fetichização do branco a alguém que produz consciência, é dotado de razão, que tem capacidade, e que muita vez é um ser sem corpo. Que não tem nenhum constrangimento nisso.
Os professores da agenda curricular colonial diziam isso para nós. O padre Antônio Vieira se remetia à colonização como uma empresa. A colonização é um projeto de dominação que visa o lucro monetário. Tudo é objetificado. Tudo se mercantiliza. O corpo é mercantilizado. Os seres, a existência, é transformada em peça, moeda. Precisamos entender que a edificação da Europa como centro de desenvolvimento do primeiro mundo se deu sobre a penhora desse banco de almas. Temos um governo hoje que produz uma espécie de bancocracia, mas sempre foi um banco de almas, sempre se vendeu alma aqui. Nós vivemos em um lugar que é, de fato, um aterro de existências. E temos uma responsabilidade. Há um endividamento. Há um fetiche da dominação, do esculacho, mas há uma lógica de monetarização. Não podemos perder isso de vista. Talvez seja nessa linha que tudo é apropriado. Que tudo é, de certa forma, visto como algo que acaba sendo capturado. E que é necessário mirarmos a possibilidade de outras políticas de relação. Porque é um sistema perverso, um sistema que acumula um carrego colonial. Vivemos paralisados, assombrados, por esse carrego.
Tenho muita dificuldade que vamos encontrar saídas ou possibilidades de ações que desestabilizem essa estrutura dentro do que ela mesmo nos possibilita. Na verdade, talvez nosso desafio seja soprar esse carrego para longe a partir daquilo que ficou ainda presente, herdado, nessas gramáticas comunitárias, nessas tecnologias ancestrais, nessas experiências marginais, plantadas na margem. Há uma linha muito tênue, é um caminho muito delicado. Porque a descolonização, ao contrário do que muita gente pensa, não é um passe de mágica. Ela não acontece de um dia para o outro. Ela é uma ida ao campo de batalha. E é uma batalha que não termina. Não à toa, inventamos aqui uma tecnologia de guerra que acho que comunica muito bem essa experiência, que é a capoeira. A capoeira é uma luta que não termina. Você dá uma voadora, uma rasteira, uma gargalhada na cara do outro, toma uma pernada, mas dá uma volta ao mundo e abaixa no pé do berimbau para começar o jogo de novo. Isso nos leva a mirar o mundo que talvez nos provoque a pensar essa dimensão cíclica, espiralada, de que nós temos que estar sempre preparados para dar uma resposta responsiva.
Então, a meu ver, vai muito nesse sentido da nossa capacidade de ir ao campo de batalha munido das nossas mandingas, dos nossos repertórios ancestrais ao longo do tempo injustiçados, e responder de maneira responsável, imprimindo uma outra ética no jogo, estabelecendo o fortalecimento comunitário, honrando aqueles que caminharam por aqui antes de nós e aqueles que ainda virão.
“O padre Antônio Vieira se remetia à colonização como uma empresa. A colonização é um projeto de dominação que visa o lucro monetário. Tudo é objetificado. Tudo se mercantiliza. O corpo é mercantilizado. Os seres, a existência, é transformada em peça, moeda. Precisamos entender que a edificação da Europa como centro de desenvolvimento do primeiro mundo se deu sobre a penhora desse banco de almas. Temos um governo hoje que produz uma espécie de bancocracia, mas sempre foi um banco de almas, sempre se vendeu alma aqui. Nós vivemos em um lugar que é, de fato, um aterro de existências”
____
As imagens que você viu nessa reportagem foram feitas por Débora Faria. Confira mais de seu trabalho aqui.