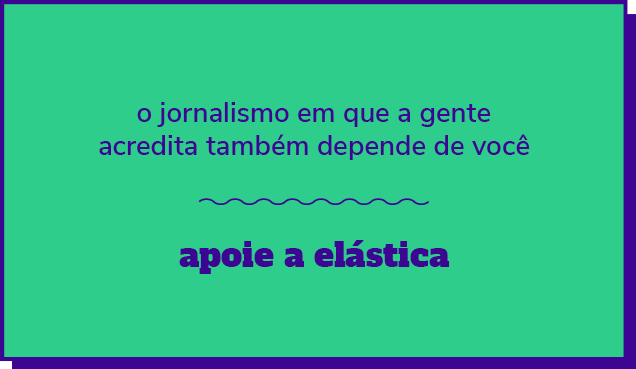esde sempre meio nerd, ligada em tecnologia, fã de videogames. É assim que Rafaela Andrade relembra parte de sua infância e adolescência. Quando descobriu que era possível juntar tudo isso com a música, “foi o melhor de dois mundos”, conta ela. Conhecida pelo nome artístico BADSISTA, a produtora musical, DJ e musicista vem se consolidando na cena brasileira e mundial há, no mínimo, uma década, mixando estilos do eletrônico, funk, reggae e o que mais sentir vontade. Ela também produziu os discos Trava Línguas e Pajubá, de Linn da Quebrada, e o EP CORPO SEM JUÍZO, de Jup do Bairro, além de firmar parcerias com artistas como Brisa Flow, Pitty e Elza Soares. Em 2016, lançou um EP homônimo, mas seu primeiro disco solo, Gueto Elegante, veio em novembro de 2021.
Agora, BADSISTA se prepara para tocar no Festival Gop Tun, programado para ocorrer em São Paulo no dia 2 de abril. O evento é uma celebração dos dez anos do selo, festa e coletivo de mesmo nome, que busca difundir e diversificar os espaços para a música eletrônica. Será o maior encontro desde seu surgimento, reunindo artistas de dez países: Chile, Itália, Angola, Reino Unido, Alemanha, Colômbia, Estados Unidos, Paraguai, Argentina e Brasil.
É um momento histórico, ainda, pela possibilidade do presencial. Isso porque a indústria musical eletrônica foi bastante afetada pela pandemia. Após apresentar um crescimento constante desde 2012, ela perdeu 54% de seu valor global em 2020, conforme o International Music Summit Report 2021. As causas da redução são evidentes, balizadas pelas restrições necessárias de festas, aglomerações e encontros como os famosos festivais. Contudo, o segmento encontrou formas de se manter ativo, seja migrando para o digital ou fortalecendo conexões já existentes. Eventos como o Gop Tun sinalizam o momento de retomada e reconstrução da indústria.
Estar de volta nessas pistas é motivo de ansiedade para BADSISTA, que já participou de festas anteriores da Gop Tun. Ela diz que está 100% pronta para tocar e para ver as pessoas se acabando, além da animação por integrar o line com DJs que admira. A produtora diz valorizar o evento, que conta com uma maioria de artistas brasileiros e novos da cena. “A galera vem tocando um som que eles gostariam de ter escutado quando colaram nas festas ou estavam nas pistas. É um compromisso de manter aquela energia”, compartilha ela, em entrevista via chamada de vídeo.
Começar cedo na música é algo que também fez parte de sua trajetória. Natural de Itaquera, zona leste da capital paulista, com 14 anos a produtora já tocava em bares com seu primo e frequentava os roles gratuitos da sua região, mas ainda não sabia que era possível unir música, tecnologia e produzir um som com computadores invés de um violão. Quem lhe introduziu nesse universo foi outro primo. “A primeira vez em que peguei num sintetizador foi por causa dele”, relembra. “Ele fazia algo mais pesadão, industrial, e o que ouvíamos na periferia da zona leste era psytrance, eletro hits. Eu lembro de ser repetitiva. Ele falava pra mim: ‘a repetição é o que faz a hipnose. Até hoje levo isso pra minha vida.”
Ver essa foto no Instagram
Alguns anos depois, BADSISTA estudou Produção Musical por meio do PROUNI. Começou a jogar suas criações na internet e a frequentar rolês de rua. Nessa jornada, conheceu Lei Di Dai, artista que, segundo ela, foi a pessoa que lhe abriu as portas para a indústria musical em São Paulo. Acabou conhecendo também Luana Hansen, colega de profissão, que lhe apresentou alguns trabalhos de Linn, à época. Desde então, começou a produzir junto com ela e outras artistas. Sempre teve liberdade para criar e acredita que “a ideia é energia, não pertence a um indivíduo no mundo”, diz ela, que já rodou continentes com sua música ao tocar em festivais na Uganda e Reino Unido.
Quando começou a frequentar as festas de reggae, passou a buscar um nome artístico para chamar de seu. “Estava procurando um nome porque não dava pra usar ‘Rafaela Andrade’ era muito barzinho, já pensou? Toco tech house!”, brinca a produtora. O nome BADSISTA já rondava sua cabeça, mas a ideia se consolidou depois de uma briga com seu irmão. Ela gostou da sonoridade e da facilidade em memorizar e escrever, e pronto, passou a usá-lo em meados de 2013 e 2014.

Nas criações, a produtora traz referências que nunca saíram de sua vista, visibilizando, a sua maneira, a comunidade periférica e LGBTQIA+. Além do talento para a produção e para a música, BADSISTA tem a sensibilidade do coletivo. De se reconhecer como parte integrante de um todo cheio de possibilidades. De manter o coração aberto. “Nunca achei que fosse ser DJ, é uma coisa que me surpreende. Achei que ia ser cantora, guitarrista… mas sou também. Essa é a graça, poder ser mais de uma coisa”, comenta. Tudo isso é imerso em muita correria, de “ser uma mafiosa nesse meio” e abrir os próprios caminhos ao lado de quem também está no percurso.
Batemos um papo com BADSISTA sobre sua história, experiências de produção e o momento da indústria musical no Brasil.
“Nunca achei que fosse ser DJ, é uma coisa que me surpreende. Achei que ia ser cantora, guitarrista… mas sou também. Essa é a graça, poder ser mais de uma coisa”