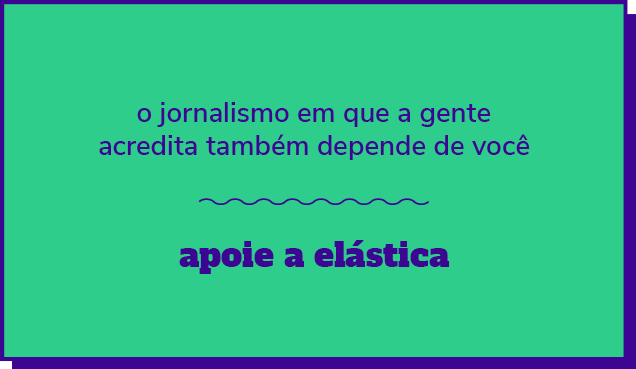8 de março, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, é aquele momento do ano em que a mídia hegemônica circula imagens de mulheres que se desdobram em funções das mais diversas, com atribuições consideradas inerentes a sua existência quanto ao serviço de casa, maternidade e trabalho. Nas empresas, as mensagens corporativas enviadas às funcionárias, nos cartões dos buquês de flores e nos bombons, a ideia que prevalece é de uma mulher que “luta sem perder a sensibilidade”, de “mãe devotada que protege e ajuda a todos”, a de “profissional competente que não perde a feminilidade”. Normalmente as mulheres escolhidas para as reportagens e comerciais de TV que lembram a data ocupam funções que secularmente foram vistas como “masculinas”, enquanto o zoom da câmera foca nas unhas coloridas e no batom, visando destacar o quanto são “mulheres” apesar de ocupar tais funções.
Neste contexto, vale sublinhar, que a imagem da mulher representada nas celebrações, geralmente, diz respeito à figura feminina nos padrões europeus. As mulheres negras e indígenas há muito reivindicam reconhecimento e representação e, pensando quanto à formatação da data da homenagem, se faz importante lembrar que esta foi firmada a partir de um movimento de trabalhadoras que ainda não nos incluía, enquanto negras e indígenas, desconsiderando por exemplo o trabalho doméstico e, antes disso, as relações de produção nos nossos territórios de origem e/ou em zonas rurais.
“Se essa disparidade relativa ao reconhecimento de mulheres negras cis já é bastante incômoda, nos níveis mais sombrios desse “legado” emerge outra representação, carente de quaisquer cuidados ao longo de toda a história: a das mulheres trans”
Perante essa realidade, voltemos ao indispensável papel de mulheres negras como Sojourner Truth, abolicionista e ativista pelos direitos da mulher, que, em 1851, na Convenção dos Direitos da Mulher em Akron, proferiu a tão simples quanto significativa fala: “E não sou uma mulher?”.
Se essa disparidade relativa ao reconhecimento de mulheres negras cis já é bastante incômoda, nos níveis mais sombrios desse “legado” emerge outra representação, carente de quaisquer cuidados ao longo de toda a história: a das mulheres trans. Se por um lado a luta delas já reverbera em pequenas vitórias, a mulher transgênero ainda luta pelo direito de existir.
Ver essa foto no Instagram
A mulheridade da mulher trans precisa ser vista, colocada em lugar de não-questionamento. Por muito se entende, dentro de um olhar sob os estereótipos sociais, que a mulher trans oprime o domínio do homem machista, que não a enxerga como mulher, e até mesmo alguns grupos de mulheres, que aderem à rivalidade ao invés da sororidade. Esse conceito, fortalecido na atualidade por meio de figuras públicas que esbanjam ódio contra a população trans, nos leva para um lugar de marginalidade, de não existência enquanto seres humanos.
Gosto da ideia de transfeminismo para pensar as intersecções entre as questões próprias das mulheres trans e os demais feminismos, como um campo fronteiriço de diálogo, de trocas e até mesmo de disputas. Esse lugar de fronteira deve ser entendido, portanto, como lugar de encontro. O transfeminismo faz fronteira com o feminismo negro, com o feminismo lésbico, com o feminismo socialista, com o ecofeminismo; e essas fronteiras são intersecções essenciais às demandas da mulher como corpo social plural. A mulheridade da mulher trans não se situa no âmbito do biológico, mas está completamente sintonizada com o ser e sua identificação.